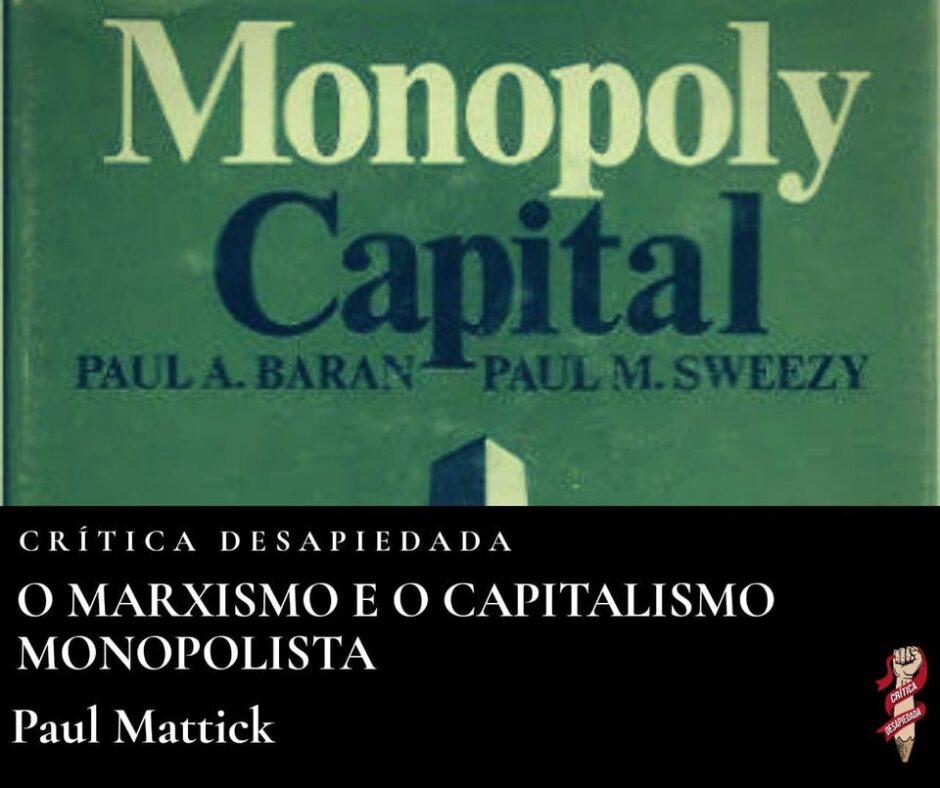
Original in English: Monopoly Capital
TÍTULO ORIGINAL: “Marxism and Monopoly Capital”, Progressive Labor, Julho-Agosto de 1967, pp. 34-49.
I
Paul Baran e Paul Sweezy, autores de O Capitalismo Monopolista[1], quiseram remediar com este livro “a estagnação da ciência social marxista”, deslocando o seu centro de interesses do capitalismo de concorrência para o capitalismo de monopólio. Segundo eles, a análise que Marx fez do capitalismo baseava-se na “hipótese de uma economia de tipo concorrencial”, que sofreu desde então uma mudança qualitativa, transformando-se em capitalismo monopolista. Marx, afirmam estes autores, “considerava os monopólios não como um elemento essencial do capitalismo, mas como uma sobrevivência do passado feudal e mercantilista, do qual se devia abstrair para melhor se poder apreender as estruturas fundamentais e as tendências do capitalismo”[2]. A sua obra tem como objetivo a eliminação deste defeito graças à aplicação do “poderoso método analítico” do próprio Marx.
Em Marx, a análise do desenvolvimento do capitalismo funda-se na teoria do valor-trabalho e da mais-valia. No entanto, Baran e Sweezy dizem que as relações de mercado são “essencialmente relações de preços” e que, em consequência, “o estudo tanto do capitalismo monopolista como do capitalismo concorrencial deve começar pela análise do mecanismo dos preços”[3]. Ora, para Marx, as relações de preços derivam das inter-relações do valor das mercadorias e o estudo do capitalismo terá, por consequência, de começar pelo estudo das relações de valor. Para a análise do capitalismo com base no valor não interessa a concorrência, pela simples razão de que, no agregado social, o total dos preços é igual ao valor global. Contrariamente à asserção de Baran e Sweezy, a análise marxista baseia-se não numa hipótese de capitalismo concorrencial, mas no conceito de capital total. Se este conceito é válido, sê-lo-á independentemente do fato de a estrutura efetiva do capitalismo ser concorrencial, monopolista ou mista.
Marx, vivendo numa época de intensa concorrência, certamente não ignorava que as flutuações do mercado são determinadas pelos preços e nunca pelos valores e ainda que estas flutuações estejam circunscritas por relações sociais como as relações de valor. As partes descritivas do Capital dizem respeito ao capitalismo concorrencial e à eliminação da concorrência pela própria concorrência, ou seja, à centralização e concentração do capital. O que Baran e Sweezy queriam talvez afirmar, ao dizerem que Marx negligenciara os monopólios – isto é, o sistema de preços administrados, e já não fixados pela concorrência, e de uma maior tendência para a estagnação do que para a expansão – é que Marx não utilizava a palavra “monopólio” no sentido burguês, como opondo-se a “concorrência”. A teoria da concorrência de Marx é simultaneamente uma teoria do monopólio e este, nesta acepção, é sempre concorrencial, dado que um capitalismo de monopólios sem concorrência implicaria o desaparecimento das relações de mercado do tipo das que servem de base ao capitalismo de propriedade privada.
A concorrência, é evidente, está fundamentalmente ligada ao apogeu do capitalismo. “Enquanto o capitalismo for fraco, ele procurará, observava Marx, apoiar-se nas muletas de um modo de produção desaparecido ou em vias de desaparição; porém, mal se sinta forte, libertar-se-á dessas muletas e organizar-se-á segundo as suas próprias leis. Do mesmo modo, quando começar a sentir e a fazer-se sentir como um obstáculo ao desenvolvimento, procurará então refúgio em formas que, embora parecendo aperfeiçoar o reino do Capital, devido ao travão que impõem à livre concorrência, anunciarão de fato a dissolução do capital e modo de produção do qual ela é o fundamento”[4]. Por outras palavras, os estágios infantis e senis do desenvolvimento capitalista são marcados pela predominância do monopólio. Apesar das aparências em contrário, – o fato de o sistema monopolista, em vez de ser uma forma de concorrência, eliminar a concorrência – o capitalismo encontra ele próprio uma saída.
A crermos nos nossos autores, esta “transformação fundamental de estrutura”, de que se fazem eco, a passagem da concorrência ao monopólio, exigirá uma modificação das leis originadas no “modelo da concorrência” elaborado por Marx, como por exemplo da lei da baixa tendencial da taxa de lucro. No entanto, repitamo-lo, o modelo marxista da formação do capital tem como base, aliás como também as suas implicações, não a concorrência, mas a acumulação do capital concebida, à luz da teoria do valor-trabalho. E ainda que a acumulação esteja indiscutivelmente ligada à concorrência, a baixa da taxa de lucro é determinada não por esta, mas pelas flutuações das relações de valor, no contexto da expansão do capital.
Recordemos esta lei: segundo Marx, o capital investido nos meios de produção eleva-se relativamente mais depressa do que o que é investido na força de trabalho. Dado que a mais-valia não é senão sobretrabalho, a redução do tempo de trabalho em relação à massa crescente do capital improdutivo provoca uma baixa na taxa de lucro, visto que esta é “medida” em relação ao capital total, ou seja, em relação à soma do capital investido nos meios de produção (ou capital constante), mais o capital investido na força de trabalho (ou capital variável). A baixa tendencial da taxa de lucro não é, portanto, senão uma outra expressão para designar a acumulação de capital e a produtividade crescente do trabalho[5].
Se Marx refere uma tendência da taxa de lucro para baixar é porque “as mesmas causas que produzem uma diminuição absoluta da mais-valia, e logo de lucro em relação e um determinado capital, e consequentemente fazem baixar também a taxa de lucro calculada em percentagem, provocam um crescimento da massa absoluta de mais-valia e, logo, do lucro de que se apropria o capital total. E se assim acontece é porque “cada fração alíquota do capital social igual a 100 e portanto cada porção de 100 unidades de capital, de uma composição orgânica social média, constituem uma dada grandeza; se, portanto, para estas a diminuição da taxa de lucro coincide com a diminuição da grandeza absoluta deste, é precisamente porque neste caso o capital, ao qual aquelas se referem e medem, é uma grandeza constante. Em contrapartida, a grandeza do capital social total, e do mesmo modo a do capital que se encontra nas mãos dos capitalistas individuais (…) varia na razão inversa da diminuição da sua fração variável”[6].
Apesar da baixa tendencial da taxa de lucro, “o número de operários empregues pelo capital (…), e portanto a massa absoluta de sobretrabalho que absorve, donde a massa de mais-valia que produz, donde a massa absoluta e lucro que produz, podem aumentar cada vez mais. Não basta afirmar que pode ser assim; na base da produção capitalista é forçoso que assim seja – pondo de lado oscilações passageiras”[7]. Quanto a isto apenas existe uma única condição, a saber: “que o capital total aumente proporcionalmente mais do que a percentagem da baixa do capital variável”[8].
No entanto, e ainda segundo Marx, a acumulação caracteriza-se por: “primo, o crescimento do sobretrabaho, ou seja, a redução do tempo de trabalho necessário para reproduzir a força de trabalho; secundo, a diminuição da quantidade de força de trabalho (número de operários) que é, resumindo, usada para realizar um determinado capital”[9]. Estes dois fatores condicionam-se reciprocamente e influenciam em sentidos contrários a taxa de lucro. Enquanto num extremo a taxa de mais-valia se eleva, o número de operários diminui no outro. “Na medida, diz Marx, em que o desenvolvimento das forças produtivas reduz a parte paga do trabalho utilizado, ele aumenta a mais-valia porque provoca o crescimento da sua taxa; no entanto, na medida em que ele reduz a massa total de trabalho empregue por um determinado capital, vem a reduzir também o fator número pelo qual se multiplica a taxa de mais-valia para obter a sua massa”[10].
Assim, se a acumulação é um obstáculo à baixa da taxa de lucro, esta não pode na verdade ser impedida, dado que existem limites determinados para além dos quais se torna impossível aumentar o tempo de trabalho absoluto e o tempo de trabalho necessário, ou por outras palavras, o tempo de trabalho que calha em partilha aos operários não pode ser encurtado mais em proveito do sobretrabalho. Um exemplo extremo far-nos-á compreender melhor: o tempo de trabalho absoluto não pode ser superior a vinte e quatro horas por dia, nem o tempo de trabalho necessário reduzido a zero. É sem dúvida possível compensar, através de uma exploração maior, a redução relativa do número de operários, mas esta compensação não pode ser levada ao “infinito”. Qualquer que seja a massa de força de trabalho de que o mundo capitalista disponha, ela deve diminuir em relação ao crescimento cada vez mais rápido do capital constante. Se a concebermos fazendo abstração do seu “fim lógico”, uma expansão acelerada e permanente do capital terá como efeito o transformar a queda latente da taxa de lucro na sua queda absoluta, devido à ausência de mais-valia face à massa acrescida do capital total. A partir deste momento, a realidade corresponderia ao modelo da acumulação do capital elaborado por Marx.
Uma vez que a acumulação tenha atingido um certo limiar, torna-se impossível compensar a diminuição do capital variável por um aumento de mais-valia que permita ao capital total continuar a dar lucros suficientes. Desde então, a taxa de lucro cai abaixo do nível indispensável à boa marcha da expansão. É claro que não se pode prever em que momento exato isso se produzirá na realidade concreta, mas, segundo Marx, este processo, ainda virtual, evidencia o aparecimento periódico de fases de estagnação do capital e de dificuldades sempre maiores para as vencer, transformando as condições de produção de um modo capaz de permitir a elevação da taxa de mais-valia. É evidente que o capital só consegue acumular-se caso haja um aumento da massa da mais-valia. Não se compreende, portanto, como um aumento da massa da mais-valia viria a obrigar à exclusão da teoria da baixa da taxa de lucro. Na verdade, isso em nada afeta a teoria de Marx.
II
Quanto a Baran e Sweezy, julgam necessário substituir “a lei da baixa do lucro pela do aumento do excedente”. É nitidamente ignorar o que Marx pensava: que um aumento da mais-valia tem como efeito contrabalançar a baixa efetiva da taxa de lucro. Mas lançados nesta vã empresa, os nossos autores declaram que, longe de pretenderem recusar ou tão pouco rever um “teorema consagrado da economia política” desejam sublinhar “o incontestável fato de que a estrutura da economia capitalista sofreu uma mudança fundamental desde a época em que aquele teorema foi formulado”[11]. A seus olhos, a “passagem” da concorrência ao monopólio, por si só, chega perfeitamente para tornar inútil a lei imanente da expansão do capitalismo, tal como Marx a enunciou. Em apoio desta afirmação alegam a aparente abundância de mais-valia nos Estados Unidos. Suponhamos, por momentos, que Baran e Sweezy têm razão: eles não fariam mais que repetir o que o próprio Marx tinha já evidenciado, a saber: que uma taxa de exploração suficientemente elevada impede provisoriamente a baixa da taxa de lucro.
Não satisfeitos em procederem a esta substituição de lei, Baran e Sweezy substituem também a noção de mais-valia pela de excedente. “Preferimos, justificam, o conceito de excedente em vez da tradicional mais-valia marxista, na medida em que esta última é frequentemente, parece, assimilada à soma lucro + juro + renda”. E prosseguem nos seguintes termos: “É verdade que Marx demonstra (…) que a mais-valia compreende também outros elementos tais como as receitas do Estado e da Igreja, as despesas ligadas à conversão das mercadorias em dinheiro e os salários dos trabalhadores improdutivos. Contudo, Marx considera estes elementos em geral como fatores secundários e elimina-os do seu esquema teórico fundamental (…). Tal método já não se justifica”. Esta a razão pela qual Baran e Sweezy pensam que uma “alteração terminológica”, a substituição da mais-valia pelo excedente, “ajudará a efetuar a transformação teórica necessária”[12].
Se Marx analisa o capital com a ajuda das noções de valor e mais-valia, se a divisão da mais-valia em lucro, renda e juro desaparece ela própria desta análise é porque “a relação entre trabalho assalariado e capital determina inteiramente o caráter do modo de produção”[13]. Assim, Marx podia escrever um dia a Engels que “os melhores pontos” de O Capital são precisamente: “evidenciar o duplo caráter do trabalho, consoante se exprime como valor de uso ou valor de troca (toda a compreensão dos fatos reside nesta tese) e a análise da mais-valia independentemente das suas formas particulares, o lucro, o juro, a renda fundiária, etc.”[14]. Fazendo entrar em linha de conta a relação da mais-valia face ao capital total, Marx foi bem sucedido onde Ricardo fracassara e descobriu na baixa da taxa de lucro uma lei imanente à acumulação do capital, segundo ele “a mais importante de toda a economia política”[15].
Se já é aberrante fazer entrar o juro e a renda na análise-valor do desenvolvimento capitalista, é-o ainda mais fazer intervir os elementos suplementares enumerados por Baran e Sweezy, que entram na composição da mais-valia capitalista – se é precisamente esta repartição que reage sobre a mais-valia e não com outra coisa. É conveniente, segundo aqueles, a taxa de acumulação quando uma quantidade demasiado elevada de mais-valia é consumida em vez de ser transformada em capital.
Mesmo quando os nossos autores definem a mais-valia como “a diferença entre o que a sociedade produz e o custo desta produção”[16] continuamos a lidar com valor e mais-valia e não com outra coisa. É conveniente, segundo eles, chamar “excedente” à mais-valia, porque “no atual capitalismo monopolista somente uma parte da diferença entre produto e custo de produção aparece como lucro”[17]. Mas outro tanto seria possível dizer do capitalismo concorrencial! A razão desta substituição é outra; na verdade, Baran e Sweezy passaram muito simplesmente da análise marxista para a análise burguesa da economia, análise essa que faz apelo, não a noções de classe, tais como valor e mais-valia, mas a essa amálgama que é o rendimento nacional, ao conceito de “procura efetiva” e aos paliativos keynesianos contra a estagnação do capital. Seria um marxismo muito estranho aquele se preocupasse mais com a repartição da mais-valia entre os capitalistas e seus vassalos do que com a divisão do produto social entre o trabalho e o capital! Mas se apenas existissem rendimento e “excedente”, e não já mais-valia, não haveria, é lógico, nem baixa da taxa de lucro, como consequência das relações de valor inerentes à produção capitalista, nem tão pouco barreira imanente à produção de lucro. Desde então, se apesar de tudo houvesse estagnação ela seria devida não às relações de produção, e às do capital-trabalho em primeiro plano, mas a qualquer outra coisa a que Baran e Sweezy chamam estrutura monopolista do capitalismo atual.
Longe de se originarem numa ausência de mais-valia, as dificuldades que se levantam ao capitalismo monopolista possuem as suas causas, segundo estes autores, num excedente que não pode ser absorvido. Partindo dos cálculos de Joseph Phillips, observam que “o volume do excedente nos Estados Unidos se elevou a 46,9% do produto nacional bruto em 1929 (…) para vir a atingir 56,1% em 1963. Mas a parte do excedente que se designa sob o nome de mais-valia (lucro + juro + renda, ou seja, os “rendimentos da propriedade” de Phillips), declinaram rapidamente no mesmo período. Em 1929, os rendimentos da propriedade elevaram-se a 57,5% do excedente total, quando em 1963 nem sequer ultrapassavam os 31,9% (…). É evidente que não basta analisar os fatores que determinam o montante global do excedente. É necessário analisar também os fatores que o diferenciam, e debruçar-se sobre o problema da variabilidade da taxa de crescimento dos seus componentes”[18].
Independentemente do que se possa pensar destes números, de uma validade em princípio duvidosa, eles possuem interesse do ponto de vista não da problemática marxista – determinar a taxa de lucro -, mas da problemática capitalista – descobrir como as receitas não salariais se repartem entre as diversas categorias sociais que vivem do sobreproduto. E assim apenas evidenciam o fato notório de, nalguns países capitalistas, a produtividade enormemente aumentada do trabalho permitir desenvolver em grande escala a produção para esbanjamento, conversando sempre níveis de vida superiores aos do passado, e isto mesmo no contexto de uma relativa estagnação do sistema. Além disso mostram ainda que o Estado recolhe uma parte cada vez maior do produto nacional bruto. Em resumo, no que diz respeito à taxa de exploração, tudo vai bem para o capitalismo. As dificuldades apenas aparecem no momento de utilizar o “excedente”, o que exige o recurso a meios tão detestáveis como a publicidade, as intervenções do Estado, a produção de armamento, o imperialismo e a guerra.
Quando considerados sob o ângulo da teoria marxista da baixa da taxa de lucro, dizem Baran e Sweezy, “os obstáculos à expansão capitalista parecem consistir mais numa falta do excedente necessário à manutenção do ritmo da acumulação do que numa insuficiência dos modos de utilização clássicos desse excedente”. Ora, acrescentam eles, na época dos monopólios, “quando a lei do excedente crescente substitui a lei da baixa tendencial da taxa de lucro e quando os modos normais de utilização do excedente são visivelmente incapazes de absorver um excedente que cresce, a questão dos outros modos de utilização toma uma importância decisiva”[19].
Ainda segundo a tese que aqui se discute, os modos normais de utilização do excedente são o consumo e o investimento capitalistas – os quais aumentam graças aos custos inevitáveis do processo de circulação e das atividades necessárias, mas improdutivas. Na era dos monopólios, no entanto, estes modos normais já não chegam para utilizar o excedente, porque a produção ultrapassa a procura. E visto que o “excedente” não pode ser já absorvido, cessa a sua produção. A partir de então, a estagnação torna-se o estado normal do capitalismo monopolista. “Dado o stock de capital e a estrutura dos preços e custos, a taxa de funcionamento do sistema não pode elevar-se acima do nível ao qual o excedente criado encontra o necessário escoamento. E isto significa a existência de uma sub-utilização crônica dos recursos disponíveis, humanos e materiais. Por outras palavras, o sistema deve manter-se a um nível suficientemente baixo, dentro da sua escala de rentabilidade, a fim de não criar excedentes que não venha a poder absorver”[20]. O que tudo isto quer dizer é apenas que “o capitalismo dos monopólios” não tem nenhum interesse em levar a produção a um limiar acima do qual perde a sua rentabilidade. Tal era igualmente o caso para o “capitalismo de concorrência”, como o demonstra o aparecimento de crises periódicas nesta época. Mas o que ontem se apresentava como uma fase de estagnação no contexto do ciclo econômico, parece corresponder hoje ao curso normal das coisas, esta a diferença. Não sendo as fases de estagnação mais do que crises, tudo se passa então como se a crise provisória se houvesse transformado em crise permanente.
O “excedente” não absorvível, de que falam Baran e Sweezy, não existe na realidade, dado que a produção para mal deixa de originar lucro. O que existe são recursos inutilizados, tanto materiais como humanos. E não é, portanto, um “excedente” real que perturba a economia monopolista mas, e muito simplesmente, um excedente virtual, que poderia ser sem dúvida produzido, mas que o não é na realidade. O capitalismo monopolista, escrevem os nossos autores, se fosse “abandonado a si próprio – ou seja, na ausência de forças contrárias que não fazem parte do que se poderia chamar a “lógica elementar” do sistema – viria a enlear-se cada vez mais no pântano de depressão crônica”[21]. Na verdade, com base na sua teoria, não poderia ser de outro modo, pois se a economia monopolista é incapaz daqui para o futuro de “absorver” o “excedente”, continua incapaz de produzir. Do mesmo modo, qualquer progresso na produtividade do trabalho de molde a aumentar o “excedente”, obrigaria os monopólios a restringirem ainda mais a produção. Devido à multiplicação dos recursos inutilizados que daí resultariam, a acumulação do capital – ou seja, o modo de produção capitalista – acabaria por atingir o seu termo.
Na prática pouco importa que se explique a redução da produção por uma ausência de procura efetiva ou por uma falta de rentabilidade que conduza àquela. No primeiro caso o problema é abordado na perspectiva do mercado; no segundo, sob a da produção. No entanto, quer num quer noutro encontramo-nos perante uma redução da produção. De qualquer modo é apenas quando a acumulação do capital se faz rapidamente que a procura cresce em proporções que permitem realizar a mais-valia e transformá-la em capital.
Como a produtividade do trabalho se eleva mesmo na ausência de acumulação, conclui-se daí que ela é totalmente independente do processo de produção, tomado enquanto processo de expansão do capital. Todavia, enquanto a acumulação se prosseguir, a produtividade do trabalho não deixa de acompanhar a expansão-valor do capital. Sob a sua forma-valor, os capitais constante e variável estão intrinsecamente unidos às condições de produção, quer dizer, aos meios de produção e à força de trabalho. Marx fazia distinção entre a composição-valor e a composição-material (técnica) do capital, e “para exprimir a íntima união que existe entre uma e outra” chamava a “composição orgânica do capital à sua composição-valor, na medida em que esta depende da sua composição técnica e, consequentemente, as modificações ocorridas numa se refletem na outra”[22]. O conceito de composição orgânica do capital faz realçar a identidade e a diferença de caráter existente entre produção material e produção-valor e reproduz, à mais larga escala social, o conceito de valor na medida em que este exprime essa diferença de caráter entre valor de uso e valor de troca, ou seja, a contradição fundamental de produção capitalista. Para Marx, há entre a produção material e de valor uma antinomia que, apesar de gerar dificuldades no seio do processo de acumulação, permite a este último arrancar e desenvolver-se graças à transformação das condições materiais, técnicas, da produção, as quais têm como efeito o aumento da produtividade do trabalho e com isso das taxas de mais-valia e de lucro. Desde que tal se torna impossível, os investimentos deixam de dar origem a lucro e, consequentemente, deixam de se fazer.
E, o que é mais importante, a rentabilidade de qualquer capital particular está ligada, segundo Marx, à do sistema capitalista em geral. A grandeza deste último é desconhecida e apenas as flutuações do mercado deixam perceber se aumenta ou diminui. Assim, é a situação do mercado que determina da sorte de cada capital particular, o faz crescer, diminuir ou estagnar a um determinado nível. Seja para alcançar uma maior porção de um determinado mercado, seja para manter a sua rentabilidade num mercado em vias de contração, os diversos capitais esforçar-se-ão por reduzir os respectivos custos de produção com vista a conservar ou aumentar a capacidade concorrencial. Assim é e sempre assim será. No entanto, em caso de recessão, os capitais mais fracos cedem com maior rapidez o lugar aos mais fortes e as transformações ocorridas nas esferas da produção combinam-se com mudanças nas do mercado. O capital verá desde então aumentar não só a sua produtividade, mas igualmente o seu grau de concentração e centralização. Um menor número de capitalistas disporá de um mercado mais vasto e ainda que esta transformação “para melhor” seja devida a uma mudança nas condições de produção, terá a aparência de uma transformação nas condições do mercado, de um restabelecimento da procura efetiva, que irá permitir o reinício da acumulação e é como tal que será entendida.
III
Para Baran e Sweezy, contudo, os problemas do capitalismo são exclusivamente problemas de mercado. Estão em geral ligados à realização, e não à produção, do “excedente”. Se ficam recursos por utilizar é porque as capacidades de produção excedem a procura efetiva. É evidente neste caso que se a produção fosse menos elevada, a procura seria relativamente mais importante. Mas dado que o aumento do “excedente” e a redução da procura constituem um único fenômeno, este fenômeno único mas com dois aspectos exige ele próprio uma explicação. Se o monopólio pudesse vender mais, é evidente que o faria; mas é preciso em primeiro lugar que o capital se acumule, abrindo simultaneamente a via a um aumento da procura efetiva; ora a baixa da rentabilidade impede precisamente o crescimento do capital. Lamentar a ausência de procura efetiva significa portanto deplorar uma rentabilidade insuficiente.
Segundo a tese defendida por Baran e Sweezy, são as capacidades de produção existentes que impõem restrições de produção. Não fazendo caso do caráter-valor da produção capitalista, esta teoria considera assim o “excedente” não como mais-valia, mas apenas como um excedente de produção. Ora, no contexto do capitalismo, as mercadorias (enquanto valores de uso), cuja massa cresce sem cessar, apresentam-se como valores de troca. E diminuindo a massa dos valores de troca à medida que a produtividade do trabalho aumenta, segue-se que a acumulação do capital exige que o aumento da massa dos valores de uso seja maior que o da produtividade. E é apenas devido ao aumento das capacidades de produção eu o valor de troca total cresce e o capital se acumula. De fato, a capacidade de produção global cresce particularmente em tempo de crise, a fim de permitir que o processo de acumulação arranque de novo. É justamente esta necessidade absoluta de aumentar a capacidade de produção que demonstra a realidade da queda tendencial da taxa de lucro. É também o único meio de evitar esta queda. Portanto, eis a razão por que, ao tentar determinar-se se a rentabilidade é ou não suficiente, é necessário relacionar o valor de troca dos produtos em excedente, e não o da produção em geral, com o valor do capital total. Visto que a capacidade de produção de que a sociedade capitalista dispõe num dado momento se relaciona não com uma determinada quantidade de mercadorias, mas com o valor destas, Baran e Sweezy, para demonstrarem a sua tese de modo verdadeiramente convincente, deveriam ter invocado em seu apoio, não uma capacidade crescente de produção de mercadorias, mas antes uma capacidade crescente de produção de valores de troca.
Em sistema capitalista, qualquer “excedente” representa ou mais-valia ou prejuízo. Segundo os nossos autores, o “capitalismo monopolista”, para limitar este gênero de prejuízos, limita o excedente restringindo a produção. Mas, na realidade, o capitalismo, qualquer que seja a sua estrutura, procura com afinco aumentar a mais-valia através do funcionamento integral ou apenas parcial dos recursos produtivos. Se acontece que estes não são utilizados, não é de modo algum porque a sua produtividade seja demasiado forte, mas porque, pelo contrário, ela não o é suficientemente. Qualquer elevação da taxa de obsolescência revela que o ritmo ao qual os meios de produção perdem a sua capacidade de criar lucro se acelerou. E o mais importante é que o capital, movido pela sua insaciável sede de lucro, faz tudo o que pode para extrair mais-valia nos quatro cantos do mundo, com vista a aumentar os lucros que realiza dentro das suas próprias fronteiras.
Como explicar esta frenética procura de mais-valia e de lucro se o “excedente” disponível se encontra já em vias de asfixiar o “capitalismo monopolista”, tal como Baran e Sweezy o afirmam? Na realidade, nunca pode haver demasiado de ambos, na medida em que no decorrer da expansão do capital a rentabilidade não deixa de diminuir. A mais-valia contida nas mercadorias constitui tempo de trabalho extra. Seja qual for a forma que o “excedente” apresente tratar-se-á sempre, em sistema capitalista, de uma determinada quantidade de sobretrabalho, de uma certa fração o tempo de trabalho social total. E, independentemente do modo como esse “excedente” consegue aumentar, a diminuição do tempo de trabalho total que o aumento da composição orgânica do capital provoca, acompanha uma diminuição do tempo de sobretrabalho. Não é a massa das mercadorias, na medida em que forma um “excedente” em perpétua ascensão, que determina a taxa de lucro, são as relações de valor entre trabalho “morto” e trabalho “vivo”, isto é, a relação sempre flutuante que existe entre capital constante e capital variável e que a taxa de exploração vem modificar. É claro que a taxa de lucro pode baixar apesar de um “excedente” em aumento e mesmo devido a este, considerado como uma massa de mercadorias e nada mais. A partir de então o próprio fato de existir um “excedente” exprime a baixa da taxa de lucro nas suas manifestações concretas: as crises de super-produção ou, mais recentemente, o sub-emprego semi-permanente dos recursos produtivos. E, num caso como noutro, parece claramente que a taxa de lucro abaixou para um nível tal que desencoraja, e exclui mesmo, a possibilidade de investimentos em capital adicional a uma escala suficientemente importante para poder suscitar uma procura real que venha a permitir a realização da mais-valia fornecida por uma produção alargada.
Recorramos de novo a um exemplo extremo: suponhamos que a automatização sistemática da produção tenha reduzido o capital variável a tal ponto que este não represente mais do que uma fração negligenciável do capital total. Imediatamente a produtividade do trabalho se encontraria metamorfoseada em “produtividade do capital”. A produção aumentaria em proporções extraordinárias, mas precisaria de pouco trabalho imediato e, consequentemente, a soma do sobretrabalho permaneceria muito baixa. Mas a massa dos trabalhadores assim votados ao desemprego não desapareceria e o encargo de assistir às suas necessidades competiria desde logo ao setor automatizado da produção: o capital alimentaria os trabalhadores e não o inverso. As condições do capitalismo encontrar-se-iam assim revolucionadas. Seria o fim da produção fundada no valor e extração da mais-valia.
Concebe-se, portanto, facilmente que não há possibilidade de isto acontecer num contexto capitalista. Com efeito, enquanto a produção tem por objetivo a criação de valores de troca, as quantidades de tempos de trabalho dispensadas com este fim permanecem a fonte e a medida da riqueza capitalista. Embora o “desenvolvimento do capital fixo, escreve Marx, indique até que ponto o conjunto dos conhecimentos sociais, o knowledge, se tornou uma força produtiva imediata e, por isso, até que extremo as condições do processo da vida social estão elas próprias submetidas ao controle do general intelecto e são por este transformadas”[23], a contribuição particular do capitalismo para este estado de coisas diz unicamente respeito ao fato de “aumentar, por todos os meios da arte e da ciência, o tempo de sobretrabalho das massas, na medida em que a sua riqueza é função direta da apropriação do tempo desse sobretrabalho”[24].
IV
O modelo de acumulação do capital utilizado por Marx constitui um sistema fechado e homogêneo no quadro do qual a composição orgânica cada vez mais elevada do capital tem como consequência uma quebra do lucro, desde que sejam atingidos os limites da extração de mais-valia. Se era possível considerar como um sistema fechado um país industrial tão desenvolvido como o caso dos Estados Unidos – no qual Baran e Sweezy fizeram incidir a sua análise – a taxa de lucro daquele, concebida na perspectiva marxista, deveria baixar simultaneamente com o crescimento da composição orgânica do capital, salvo no caso de o processo vir a ser contrabalançado por uma elevação da taxa de mais-valia, exprimindo-se esta através de uma expansão acelerada do capital. Mas neste caso trata-se de um sistema aberto e portanto apto quer a tornar mais lenta a elevação da composição orgânica, exportando capitais, por exemplo, quer a aumentar a sua rentabilidade, importando lucros. Contudo, as exportações de capitais não travaram sensivelmente a elevação da composição orgânica do capital americano, e as importações de lucros não têm sido suficientemente consideráveis até à data, para darem conta da quantidade aparentemente suficiente de lucro de que o país usufrui. Pode-se dizer, em linhas gerais, que se a produção americana aumentou, foi devido a uma produtividade do trabalho sempre crescente.
No entanto, desde que se olhe o mundo no seu conjunto, torna-se manifesto que de modo algum sofre de um excesso, mas pelo contrário dessa “penúria” generalizada que domina os países pobres em capital e que faz bastante mais do que contrabalançar o “excedente virtual” do “capitalismo monopolista”: numa parte do mundo, a super-produção de capital; na outra a sub-capitalização. Se se tomar o capitalismo no seu conjunto, enquanto sistema de mercado mundial, o “excedente” desaparece e encontramo-nos face a uma extrema penúria de mais-valia.
É claro que considerado como um todo, o capitalismo não possui uma composição orgânica suficientemente elevada para explicar o fato de a taxa de lucro ser demasiado baixa para induzir uma nova fase de expansão acelerada. Mas com o processo de acumulação combina-se por definição com o processo de concentração e, do mesmo modo que em casa país ele tende a colocar o capital destinado à acumulação num cada vez menor número de mãos, leva também à concentração do capital mundial somente nuns quantos países. Com efeito, apenas é importante a expansão-valor do capital existente, não a sua expansão no espaço, tendo este lugar apenas na medida em que favorece a expansão-valor dos capitais concentrados e dominantes. Neste sentido, a monopolização divide o mundo em sistemas nacionais que diferem entre si em função da composição orgânica do seu capital próprio. Ainda que o capitalismo pudesse alargar-se em geral, ainda que o processo de acumulação não fosse simultaneamente um processo de concentração do capital, o “excedente virtual” dos poucos países industrialmente avançados, embora transformado em excedente real, não bastaria de modo algum para cobrir as necessidades em capitais do capitalismo mundial. A contradição inerente à economia capitalista torna-se um obstáculo à expansão do sistema, muito antes que os limites abstratos que a teoria de Marx atribui ao desenvolvimento do capital sejam verdadeiramente concretizados na realidade.
Marx previu que o capitalismo, após provocar um desenvolvimento fulgurante dos poderes produtivos da sociedade, chegaria a entravá-los e que consequentemente, para sobreviver, ser-lhe-ia necessário não só passar por fases de crise e de estagnação, mas também sofrer uma auto-destruição completa. A existência de um “excedente virtual” nos países capitalistas avançados e de uma miséria crescente e contínua do sistema para implantar a grande escala, no globo inteiro, o modo de produção que o caracteriza. Vista sob o ângulo do mercado, esta incapacidade parece ligada a uma incapacidade de realizar o lucro. Quando o “capitalismo monopolista” se revela incapaz de vender a sua própria produção virtual, o resto do mundo, devido ao atraso dos poderes produtivos, não pode comprar por ausência de mais-valia. O que de um lado parece um problema de realização do lucro, surge do outro como um problema de produção do lucro. No entanto, quando se considera o sistema na sua totalidade, apercebemo-nos que somente uma penúria geral de mais-valia pode explicar a causa da lentidão da sua expansão.
Em princípio acontece o mesmo com qualquer país capitalista. O sub-emprego dos recursos produtivos, que se desenvolve constantemente em razão da ausência de rentabilidade, não faz senão agravar ainda mais a penúria de lucro em relação às exigências da acumulação. Conquanto os recursos inutilizados representem capital constante, estes perdem a sua característica de capital devido a esta mesma inutilização, ou seja, deixam de funcionar como capital gerador de mais-valia. E devido ao fato desta característica do capital desaparecer, a rentabilidade do capital total – seja de que espécie for – diminui, enquanto a mais-valia, – independentemente do seu valor – se torna mais reduzida do que seria se as capacidades de produção fossem usadas em pleno.
No entanto, Baran e Sweezy não deixam de afirmar que o capital monopolista “tende a criar um excedente crescente sem chegar contudo a fornecer, no plano do consumo e do investimento, as saídas que a absorção desse excesso crescente exigem e, portanto, o funcionamento harmonioso do sistema”[25]. Qual é então o fator ao qual o “capitalismo monopolista” deve uma rentabilidade tão extraordinária? “A redução dos custos, respondem os nossos autores, a qual implica uma margem de lucro sempre crescente”[26]. Eis o que é implícito de um extremo ao outro do desenvolvimento do capitalismo e que dá conta precisamente deste desenvolvimento. Mas, afirmam Baran e Sweezy, existe uma diferença: enquanto em regime de livre concorrência a empresa particular “sujeita-se ao preço”, em regime de monopólio os trusts “impõem o preço”[27] e, “como consequência da política que as firmas gigantescas aplicam em matéria de preços e custos, o excedente apresenta uma tendência acentuada e contínua para a subida”[28]. Logo, a acumulação do excedente tem uma única causa: os preços administrados, ou seja, a prática que consiste em manter artificialmente o nível de preços fazendo baixar os custos salariais.
Baran e Sweezy consideram algures como origem do aparecimento de um “excedente” o crescimento demasiado rápido das capacidades de produção. Ora, este fenômeno é devido à imperfeita concorrência que caracteriza o sistema monopolista. Este último consegue com efeito fazer lucros e aumentar-lhes o montante mesmo em caso de relativa estagnação do capital, na medida em que eleva a produtividade do trabalho e impõe preços de sua conveniência. Encontrando-se o aparelho de produção existente em condições de satisfazer a “procura real”, novos e importantes investimentos em capital vêm a tornar-se supérfluos. E as amortizações permitem financiar sem dificuldades as inovações técnicas e o aperfeiçoamento do aparelho produtivo cujo rendimento chega, no contexto de uma expansão lenta, para engendrar um aumento do rendimento nacional e um crescimento ainda mais rápido dos lucros. Ao mesmo que a produção, a produtividade e os lucros se elevam, a taxa de investimento declina. Em resumo, à medida que a capacidade de produzir um “excedente” aumenta, a acumulação do capital diminui.
Todavia, o crescimento da produtividade e da produção não tem sentido no contexto do capitalismo a não ser que tenha por consequência alargar o capital existente. Na medida em que a mais-valia não é consumida, ela deve ser transformada em capital adicional. Seria absurdo aumentar a produção se a taxa de acumulação fosse obrigada a diminuir. É a relação capital-trabalho ou salário-lucro, e não a capacidade técnica de produção, que constitui a causa fundamental da expansão ou contração do sistema econômico. Baran e Sweezy, que não fazem caso algum desta relação social de base, consideram como possível o que é impossível em sistema capitalista, a saber: que o crescimento do “excedente” possa ser simultâneo com um decréscimo da taxa de acumulação.
No entanto, só conseguiram chegar a tal conclusão adotando a ideia, tão difundida como desprovida de fundamento, segundo a qual as transferências de receitas e as saídas de dinheiro representariam receitas, na medida em que se tratam de despesas e transferências efetuadas pelo Estado. Os nossos autores vão ainda mais longe quando pretendem abranger com esta singular concepção o capital privado; não satisfeitos em afirmarem que os lucros do monopólio vêm aumentar o “excedente” social, descobriram com efeito nos encargos da publicidade um meio de acumular capital! Lembremos a este propósito que qualquer manipulação de preço, de molde a permitir a manutenção dos lucros de monopólio, só é possível em detrimento do capital não monopolista, vindo os lucros daquele contrabalançar os prejuízos deste. Independentemente da estrutura do capitalismo, uma certa parte das receitas nacionais e internacionais origina-se sempre na mais-valia. O único modo pelo qual o “capital monopolista” poderá abarcar uma maior quantia desta soma consiste em vender a preços que lhe garantam uma taxa de lucro muito superior à média, operação que se efetua necessariamente à custa dos capitais incapazes de fazerem outro tanto. Estes últimos devem, portanto, repartir seguidamente uma fração restrita à proporção da receita global que respeita ao capital total.
Os lucros monopolistas reduzem a taxa de lucro média estabelecida em consequência da concorrência e, assim, provocam uma queda progressiva do total de lucros transferível para o capital monopolista. Deste modo, a extração destes lucros leva, num prazo que não é longo, a um impasse, afetando o processo em causa negativamente quer a taxa de lucro monopolista quer a taxa de lucro concorrencial. A manutenção dos lucros de monopólio sem simultânea redução da taxa de lucro absoluto originada na concorrência só é portanto possível em período de acelerada expansão do capital, possibilidade essa excluída no caso de uma estagnação como aquela em que se move o “capitalismo monopolista” de Baran e Sweezy.
V
Se o “capitalismo monopolista” fosse gerador de um “excedente sempre crescente”, como o pretendem Baran e Sweezy, não se compreenderia a razão pela qual pratica com tanta obstinação uma política de preços destinada a diminuir os lucros do setor que fica submetido à concorrência. Baran e Sweezy reconhecem, aliás, que o “capitalismo monopolista” não cria “excedente” real, dado que trava a produção antes que este apareça, como o demonstra o volume crescente de autores citados, todavia, e apesar da ausência assim admitida de “excedente”, a realização deste dá origem a uma concorrência feroz, a qual, devido à monopolização da economia, passou a fazer muito mais apelo às técnicas de promoção de vendas do que a uma diminuição do preço. Assim, embora o “excedente” não exista senão em estado virtual, e não no real, a “lógica interna” do capital deriva “deste fato extremamente simples que é o “muito” do lado da concorrência ter por contrapartida um “Muito pouco” do lado da procura; trata-se já não de restringir a oferta, mas de estimular a procura”[29].
Do ponto de vista conceitual, escrevem Baran e Sweezy, há identidade entre a moderna promoção das vendas e o que “Marx chamava encargos de circulação. Contudo, na era do capitalismo monopolista, aquela tem um papel quantitativo e qualitativo que Marx nunca considerou”[30]. O “esforço para vender”, acrescentam, “revela-se um importante antídoto à tendência do capitalismo para cair em depressão crônica”[31], visto que “vem a absorver direta ou indiretamente uma grande quantidade de excedente que, na sua ausência, não teria sido produzido”[32]. Dado que a publicidade tem como consequência um aumento da procura efetiva, ela eleva o nível do rendimento e do emprego; assim, “o impacto direto do esforço para vender sobre a estrutura dos rendimentos e sobre a estrutura produtiva da economia é semelhante ao das despesas governamentais financiadas pelo imposto”[33]. Em resumo, “a publicidade oferece em matéria de investimento possibilidades análogas às que se atribuíam tradicionalmente às inovações. Pelo fato de permitir criar uma procura para um dado produto, leva ao investimento em instalações e equipamento que doutro modo jamais teriam surgido”[34].
Segundo esta teoria, a publicidade preenche um certo número de funções perfeitamente contraditórias entre si: encontramo-nos perante encargos e circulação… mas que criam receitas e que, não deixando de “absorver” uma parte do “excedente” são… geradoras de “excedente”, conduzindo a publicidade a novos investimentos. É evidente que se um conjunto de pessoas ganha sua vida fazendo comércio e publicidade a população em geral virá a perder uma parte dos seus rendimentos pelo fato de ser ela quem deverá pagar preços mais elevados que englobem as despesas feitas com essa publicidade. Assim aconteceu sempre, mas, segundo Baran e Sweezy, esta prática conhece na era do “capitalismo monopolista” uma extensão quantitativa que leva a criar uma diferença qualitativa; ou seja, se a despesa for suficientemente elevada virá a tornar-se uma forma de rendimento adicional. Uma vez desenvolvido graças às exportações, o consumo acarreta por sua vez um desenvolvimento da produção e do investimento. Cai-se assim na famosa “propensão ao consumo” de Keynes, meio ideal para aumentar a produção apesar dos investimentos serem decrescentes. Mas enquanto o conceito keynesiano (irrealizável no seio do sistema capitalista) está ligado ao rendimento nacional global, em Baran e Sweezy apenas diz respeito ao “excedente”, ou seja, à parte da produção social que retorna aos capitalistas.
A publicidade penetra o mercado no seu conjunto e não apenas o setor que financia o consumo dos capitalistas. Ela leva toda a gente a gastar mais, mesmo quando, segundo Baran e Sweezy, se trata apenas de escoar o “excedente” e somente ele. Ora, se há “excedente” (e se este é tão grande quanto o possa ser) é porque os custos salariais – ou, dito sob outra forma, o rendimento operário – são os mais baixos possíveis em relação ao “excedente”. A existência deste “excedente” significa que os custos salariais são proporcionalmente baixos e é por isso que não serviria de nada aumentar a “propensão ao consumo” por intermédio da elevação de salários. Para que surja um “excedente” é necessário primeiramente que ele tenha sido subtraído aos operários e que seguidamente se tenha realizado no mercado. Na ausência desta realização, encontrar-nos-íamos perante um prejuízo e não face a um “excedente”. Se os capitalistas procuram vender e vender sempre cada vez mais, é para evitar prejuízos, não para se desfazerem de um “excedente”. Quando é impossível converter em dinheiro todas as mercadorias produzidas é igualmente impossível realizar os lucros referentes à parte da produção que retorna aos capitalistas. E o “esforço para vender” é estimulado não por um “excedente” em crescimento, mas pela situação do mercado no seu conjunto, na medida em que esta é determinada por uma baixa da taxa de acumulação.
A publicidade não pode “criar” senão anúncios publicitários. Mas novos produtos, suscitando novas necessidades, são uma coisa totalmente diferente de anúncios publicitários, mesmo que possam ser objeto de publicidade. Sempre a economia de mercado se caracterizou por criar novas necessidades e é essa aliás uma das razões da sua expansão. Só por si, a publicidade é incapaz de aumentar a “procura efetiva” e, deste modo, aumentar a produção. Se o capital se vê obrigado a acumular não é só para fazer face à concorrência, mas também para conservar o seu valor-capital. Os capitalistas não se podem permitir todo o consumo do lucro que obtêm, visto que se assim fizessem em breve deixariam de o ser. Através de que meios a publicidade poderia modificar verdadeiramente algo no que respeita a esta necessidade urgente de acumular? E não será a acumulação que pelo seu lado vem a determinar a “procura efetiva” dos bens de consumo?
Se é incontestável que a publicidade consegue dirigir o consumo para este ou aquele produto, ou ainda para tal ou tal vendedor dum idêntico produto, não é menos verdade que jamais ela terá poderes para aumentar uma “procura efetiva”, objetivamente determinada. É claro que a publicidade é capaz de modificar a repartição da mais-valia disponível, mas como poderá ela aumentar a mais-valia social total, disponível num determinado momento, se não representa senão uma fração desta?
Na base desta curiosa concepção do papel da publicidade está a ilusão de que a produção nascida fora do contexto “natural” do “capitalismo monopolista” – ou seja, a produção que foi efetivamente fabricada, mas que não teria surgido na ausência da publicidade e das encomendas do Estado – poderia revelar-se vantajosa não só para os monopólios, mas também pelos rendimentos e empregos que suscita na sociedade global. Existe, portanto, um “excedente” crescente que não provoca forçosamente uma estagnação prolongada, enquanto o pleno emprego se conjuga com a “absorção” do “excedente” graças à intervenção do Estado – e à da publicidade. Sempre segundo Baran e Sweezy, o que é de lamentar são as utilizações irracionais às quais as intervenções deste gênero destinam a maior parte do “excedente”.
O “excedente”, aparecendo no contexto da “sociedade de abundância”, é criado apesar do sistema monopolista, e não graças a ele. Como Baran e Sweezy o acentuam, ele origina-se nas compras de caráter governamental, as quais, aumentando a “procura efetiva”, fazem desaparecer as ameaças de crise. Assim, a crise é afastada pela “prodigiosa capacidade [do sistema] para engendrar o desperdício público e privado”[35]. Todavia, esbanjar o “excedente” é um meio de o “absorver”. A partir de então, desde que seja possível provocar até ao infinito o desperdício, torna-se inútil invocar a existência de um “excedente” e, consequentemente, o problema de “utilização desse excedente”. E tanto mais quanto, segundo Baran e Sweezy, o desperdício não reduz os lucros do “capital monopolista”, na medida em que diz respeito à parte do “excedente” que vai além da que é realizada como lucro. O “governo, dizem Baran e Sweezy, possui um papel semelhante mas numa escala mais larga” ao do “esforço para vender [que] absorve, direta ou indiretamente, uma grande quantidade de excedente que, na sua ausência, não teria sido produzida”[36]. Assim, logo que os recursos inutilizados entram em ação “podem produzir não só meios de subsistência para os produtores, mas também quantidades adicionais de excedente. Logo, se o governo cria uma procura efetiva suplementar, poderá aumentar o seu controle sobre os bens e serviços produzidos, sem que se intrometa nas receitas dos cidadãos”[37].
Quando, à maneira de Baran e Sweezy, se considera a mais-valia como um “excedente”, vem-se a atribuir ao capitalismo uma natureza que não é a dele. Pretender que “o volume do excedente indica não só nível ao qual a produtividade e a riqueza chegaram, mas também a margem de liberdade de que a sociedade dispõe para atingir os objetivos que se propõe”[38] é, com efeito, colocar-se num plano abstrato, fechar com os olhos ao caráter específico, ao caráter capitalista da ordem social estudada. Ora, no quadro do capitalismo, os meios de produção pertencem a uma classe específica que não é nem o “governo”, nem os “cidadãos”. Mesmo em estado de não funcionamento, os recursos inutilizados conservam-se propriedade capitalista. A menos que os confisque, o Estado só os pode utilizar por intermédio das suas compras e deve ao que extrai do capital privado, através do imposto ou do empréstimo, o dinheiro necessário para fazer as suas encomendas. Assim financiada, a produção induzida pelo Estado não aumenta a quantidade das mercadorias que podem ser vendidas no mercado, e portanto transformadas em valores de troca e logo em mais-valia. Qualquer que seja o número de empregos e a grandeza das receitas que provoque, a produção induzida pelo Estado sob a forma de trabalhos públicos com um caráter de utilidade ou desperdício, por exemplo, conduz a um resultado final que não se destina ao mercado, dado que em sistema capitalista o rendimento real deve ser realizado pela via da circulação das mercadorias. Conquanto tenha por efeito aumentar a massa total do trabalho empregado e dos bens fabricados, os produtos desta categoria não contribuem para aumentar a massa de mais-valia. Representam consequentemente mais um prejuízo do que um ganho, – prejuízo análogo ao que provoca a super-produção que impede a conversão em dinheiro duma certa parte das mercadorias.
Se acreditarmos em Baran e Sweezy, “as quantidades enormes e cada vez maiores de excedente absorvidas pelo governo no decurso das últimas décadas, não foram desfalcadas dum produto que, se não fosse essa absorção, as empresas e os indivíduos teriam tido toda a possibilidade de empregar para os respectivos fins privados”[39]. Contudo, os nossos autores notam que a fração do excedente normalmente assimilado à mais-valia baixou grandemente de 1929 até 1963. Na verdade, as receitas da propriedade, lembremo-lo, desceram de 57,7% do “excedente” total em 1929 para 31,9% em 1963. Segundo estes números, o “excedente” absorvido pelo Estado aumentou mais que o “excedente” das receitas da propriedade. Ou seja: a diminuição da mais-valia tem uma certa relação com o acréscimo das despesas de ordem governamental ou, para retomar a terminologia de Baran e Sweezy, com a “absorção” do “excedente” pelo Estado.
Baran e Sweezy sustentam, do que é justo duvidar-se, que estas receitas da propriedade não teriam sido mais elevadas na ausência de produção induzida pelo Estado. Se assim acontece com forte probabilidade, é porque o aumento deste tipo de produção tem por objetivo contrabalançar a baixa da produção privada, a fim de evitar as consequências sociais que uma crise prolongada não deixaria de ter. Mas isto não impede que a utilização dos recursos produtivos por conta do Estado signifique unicamente o aproveitamento de recursos produtivos pertencentes a pessoas privadas. Na medida em que o Estado nada possui para oferecer em troca, salvo o dinheiro que extrai da economia, há identidade – enquanto se tratar de capital privado – entre este gênero de utilização e a não valorização destes mesmos recursos produtivos no curso da fase precedente, quando estes não funcionavam.
É inegável que as encomendas do Estado têm por consequência o aumento da produção em geral, dado que o fabrico do produto final não vendável exige uma quantidade enorme de atividades produtivas nos estágios intermediários, desde a extração das matérias-primas até à produção de bens de consumo para a mão-de-obra empregue no setor em questão, passando pelo crescimento e transformação do aparelho produtivo. Mas, em cada caso, trata-se de custos salariais irrecuperáveis através de um preço de venda, qualquer que ele seja, na medida em que, com raras exceções, os produtos fabricados por conta do Estado caem fora do sistema do mercado. Assim, uma certa parte da produção total deixa de ter um caráter capitalista e, em consequência do crescimento mais rápido desta fração não rentável, a parte rentável e em vias de declínio da produção total contribui para aumentar as dificuldades a que o processo de acumulação capitalista tinha já de fazer frente.
VI
Baran e Sweezy não deixam de sublinhar com insistência que o “excedente” absorvido pelo governo se vem adicionar ao “excedente” privado e não é dele extraído. E mais, “visto que um volume acrescido de despesas públicas aproxima a economia do rendimento ótimo e na medida em que, até esse ponto, o excedente aumenta mais depressa que a procura efetiva no seu conjunto, deduz-se que as frações pública e privada do excedente podem aumentar simultaneamente e o fazem na realidade”[40]. Sem dúvida que tudo parece indicá-lo. Entretanto, tal fato manifesta-se não na taxa de expansão, mas apenas no produto nacional bruto do qual uma parte crescente deixa de produzir lucros. No entanto, este fato conserva-se escondido pelo véu de dinheiro que encobre a produção e a troca no sistema capitalista, e este disfarce é sem dúvida eficaz visto que os próprios críticos do “capitalismo monopolista” se deixam levar pelas aparências.
“Atendendo a que aquilo que o governo aciona não teria sido produzido sem a sua intervenção, afirmam Baran e Sweezy, não se pode dizer que tais investimentos hajam sido feitos em detrimento do que quer que seja. Os mecanismos orçamentais e fiscais, que serviam para efetuar as transferências de rendimentos, servem daqui em diante em larga medida para criar rendimento fazendo reentrar o capital e o trabalho desocupados no ciclo da produção”[41].
É graças a este “novo mecanismo” que “o que o governo põe em funcionamento se vem juntar ao excedente privado e não é dele subtraído”[42]. Todavia, o Estado não conseguiu persuadir disto os capitalistas. Estes continuam a protestar contra o aumento do imposto e o crescimento da dívida pública, alegando que tanto um como o outro são prejudiciais à rentabilidade do capital e às exigências da acumulação.
Que faz na verdade o Estado quando reúne o trabalho e o capital desocupados para fabricar bens não destinados ao mercado? As somas extorquidas como imposto e taxas representam uma certa parte das receitas adquiridas por intermédio de transações comerciais. Se elas são fixadas sobre o capital, este vê reduzir correspondentemente os seus lucros, que, em caso contrário, teriam podido ser consumidos ou reinvestidos em capital adicional, na ausência do que o capital na sua forma dinheiro seria destinado ao entesouramento privado. Neste último caso perde a sua função de capital, do mesmo modo que a perde quando o Estado utiliza essas somas com vista a financiar a produção não rentável, e o desperdício induzido por sua iniciativa. Desta vez não nos encontramos já face ao dinheiro entesourado e portanto não produtor de capital, mas perante uma produção de bens e serviços que igualmente não servem para nada do ponto de vista do capital. Existe contudo uma diferença: se, na ausência de imposto, o capital fica à cabeça do dinheiro entesourado, no caso do imposto destinado a cobrir a despesa pública, ele vê-se “expropriado” deste dinheiro.
Quando é empregue para pagar as encomendas do Estado, o imposto sobre o capital retorna aos capitalistas sob a forma de contratos passados pelo governo. São os capitalistas que financiam, através do imposto, a produção ligada à execução destes contratos. E recuperam de seguida esse dinheiro vendendo ao Estado uma massa de produtos equivalentes à soma de que deste modo se viram expropriados. Quanto mais esta massa aumenta, mais a produção deixa de ser uma produção de capital. O crescimento do setor cuja produção é financiada pelo imposto, constitui um índice seguro do declínio do capitalismo, tomado como sistema de empresa privada fundado na procura do lucro. E este tipo de produção, além de não ser rentável, só pode funcionar no setor da produção total que se conserva suficientemente rentável para sofrer punições fiscais de uma amplitude que venha a permitir alargar a produção induzida pelo Estado. Mas à medida que a rentabilidade baixa torna-se cada vez mais difícil desenvolver a produção por esse meio.
Entretanto, o governo tem igualmente a possibilidade de recorrer ao empréstimo. Os fundos assim atraídos, também eles, voltam aos capitalistas como pagamento da produção induzida pelo Estado. Esta última encontra-se, portanto, em parte financiada por um crescimento da dívida pública, julgado pouco perigoso enquanto o rendimento nacional aumentar mais depressa que a Dívida. Eis a razão por que se coloca de bom grado em paralelo o crescimento da dívida pública e o do rendimento nacional, para com isso justificar a tese segundo a qual o financiamento pelo “déficit” acompanharia o aumento do rendimento nacional. Mas esta tese está viciada de base por um erro de cálculo; na realidade, é preciso relacionar a massa crescente da dívida pública não com o rendimento nacional total, mas somente com a parte do rendimento que o Estado não injetou na economia. É porque se considera uma despesa como uma receita que pode parecer que o crescimento do rendimento nacional neutraliza o crescimento da Dívida. A menos que a dívida pública não seja integralmente coberta pelo rendimento adicional criado no setor privado, isto é, por um rendimento adicional absolutamente distinto do rendimento injetado na economia pelo Estado, o “rendimento” obtido por este último método, enquanto referida ao capital, mantém-se uma despesa pura e simples, ligada à utilização pelo Estado, e com fins não rentáveis, de recursos produtivos pertencentes a pessoas privadas. Trata-se de uma “expropriação” parcial do capital, mesmo quando o capital “expropriado” se encontrava perfeitamente incapaz de assumir a sua função de capital. Porém, isto não impede que os capitalistas exijam uma compensação pelo uso que o Estado faz dos recursos produtivos que lhes pertencem. Sendo a dívida contraída sobre lucros futuros, se estes lucros não são realizados o Estado não poderá fazer face aos compromissos tomados, e a receita adicional de hoje transformar-se-á mais tarde numa diminuição de rendimento. Eis o que significa “vender a pele do urso antes de o haver caçado”; aliás, devido à baixa tendencial da taxa de lucro no quadro da expansão do capital, tão pouco haverá urso para caçar.
A curto prazo a produção induzida pelo Estado tem como consequência, como é óbvio, aumentar o rendimento e o emprego acima do nível que teriam tido caso não existisse essa intervenção. A produção encontra-se portanto aumentada, anda que se trate essencialmente de uma produção com fins de desperdício. É a uma parte desta produção que Baran e Sweezy chamam “excedente”. Mas este, em vez de conter a mais-valia, é antes uma despesa indispensável à sua criação. “Dada a incapacidade do capitalismo monopolista para encontrar empregos privados para o excedente que facilmente pode produzir, afirmam eles, não há dúvida que todas as classes (mas não todos os elementos que as formam) terão interesse em ver aumentar regularmente os impostos e as despesas do Estado”[43]. Se assim acontece, isso não deixará de ocasionar não só um crescimento da produção para o desperdício, mas também uma destruição lenta e segura do sistema de iniciativa privada. Em primeiro lugar as despesas do Estado deverão ser restringidas à produção e aos serviços que não fazem concorrência às do capital privado; caso contrário, a “procura efetiva” no seio do setor privado reduzir-se-ia na mesma proporção em que aumentava a produção induzida pelo Estado. Para não prejudicar o capital privado, digamo-lo de novo, é necessário que a produção induzida pelo Estado permaneça não rentável. Em segundo lugar, este último tipo de produção não deve ultrapassar um limite relativamente pouco elevado em relação à produção global, a fim de não despojar uma grande parte dos recursos disponíveis da sua característica de capital, ou seja, de meios de produção geradores de lucros. Logo, a salvaguarda do sistema de empresa privada impõe limites definidos à expansão da produção induzida pelo Estado.
Baran e Sweezy são de outra opinião. Segundo eles, a atitude da classe dirigente americana “face à fiscalização e às despesas governamentais sofreu uma profunda transformação (…). Para o chefe da grande firma moderna (…), as despesas do Estado implicam uma procura efetiva mais forte e ele dá-se conta de que pode transferir para os consumidores e trabalhadores grande parte dos seus encargos fiscais”[44]. De fato, se o chefe de empresa em questão reage assim e aumenta os preços com o objetivo de assegurar deste modo a rentabilidade do seu capital, reduz a “procura efetiva”. É precisamente por este meio que os encargos das despesas públicas acabam por cair sobre a sociedade no seu conjunto. O crescimento da Dívida serve para pagar uma parte da produção induzida pelo Estado: quanto à outra, cabe à economia no seu conjunto pagá-la através da inflação.
A atitude do chefe de empresa que vê de bom grado aumentar a despesa pública – e isto está bem longe de ser sempre o caso! – é-lhe ditada pela necessidade de fazer lucros no seu setor particular. Aliás, porque haveria ele de compreender melhor a economia do que Baran e Sweezy que, mesmo quando a estudam no seu conjunto e não num dos seus setores específicos, chegam à conclusão de que a despesa pública permite resolver todos os problemas econômicos do capitalismo e os de todas as classes existentes no seu seio? Mas se o primeiro tem a desculpa de apenas ver os seus interesses, os segundos não possuem nenhuma, dado que a “prosperidade” criada através da despesa pública não passa de uma prosperidade fictícia, capaz de adiar as crises, mas nunca de suprimir as suas causas.
A natureza da “procura efetiva” que satisfaz importa pouco ao chefe de empresa. Que ela seja privada ou estatal é-lhe perfeitamente idêntico. O mesmo acontece com o banqueiro quando empresta ao Estado ou a empresários privados. O que lhe importa é a garantia de ser reembolsado. E um operário não se preocupa em saber se fabrica com vista ao desperdício ou ao mercado. Portanto, nenhuma distinção é feita, na vida prática, entre setor público e privado e, tanto num como no outro, as transações efetuam-se com dinheiro. A produção para o esbanjamento é tão lucrativa, senão mesmo mais, como a produção para o mercado, e – até ao dia em que o Estado repudiar os seus compromissos – identifica-se acumulação da dívida pública e acumulação de capital. Todavia, desde que a sociedade seja considerada de um ponto de vista global, apenas o setor privado aparece como gerador de mais-valia. Todas as camadas sociais que vivem desta, do mesmo modo que a expansão do capital enquanto capital, são tributárias da mais-valia, a qual, contudo, tão intensamente quanto a produtividade do trabalho pode contribuir para aumentá-la, não deixa simultaneamente de diminuir, dado que o setor não-rentável da economia conhece um crescimento relativamente mais rápido do que o setor rentável.
Sem dúvida que é inegável que em alguns países e durante muito tempo o capital conseguiu impedir o desencadeamento de crises comparáveis às que feriam tão duramente o sistema (e os homens) antes da última guerra mundial. Tão pouco poder-se-ia deixar de constatar que este resultado é imputável às intervenções do Estado no seio da economia. Eis porque é fundamental perguntarmo-nos se todas estas intervenções terão chegado para eliminar as leis do desenvolvimento capitalista tal como Marx as formulou. Nada de mais justificado, portanto, que o trabalho de Baran e Sweezy; o problema neste caso é que se enganam e enganam os outros quando se reclamam do “poderoso método analítico” de Marx. Este pode parecer ter perdido a validade face às modificações provocadas pelo desenvolvimento do capitalismo monopolista e das intervenções do Estado. Mas trata-se na verdade de aparências falaciosas que de modo algum chegam para anular o que Marx dizia acerca das leis inerentes à acumulação do capital.
Pode-se, no entanto, e com razão, ver nestas modificações reações de ordem política e um irreprimível curso das coisas da economia, que, à semelhança de outras “contra-tendências” que se opõem ao sentido dominante da expansão do capital, e que têm como consequência manter durante um certo tempo a estabilidade social através de uma pseudo-prosperidade fundada na produção para o desperdício. Baran e Sweezy têm cem vezes razão ao sublinhá-lo: “Se se elevassem as despesas militares até ao nível que atingiram antes da segunda guerra mundial, a economia americana recairia numa profunda depressão”[45]. Ou seja, a crise só é afastada por intermédio de despesas que não se podem qualificar de acumulação de capital. Ora, na ausência de acumulação, a economia é irremediavelmente obrigada a contrair-se, e quanto mais ela se contrair, mais a produção perde a sua rentabilidade. A menos que o capital no seu conjunto seja estatizado para servir fins diferentes dos da empresa privada, as intervenções do Estado na economia são forçosamente restritas devido à necessidade de conservar para o capital privado, sempre dominante, as respectivas margens de lucro. No dia em que este limite for ultrapassado, nada impedirá que a crise do capitalismo rebente.
[1] Paul A. Baran e Paul M. Sweezy, Monopoly Capital, Monthly Review Press, 1967. As referências que se seguem dizem respeito à tradução francesa de Ed. Maspero e será identificada por C.M.
[2] C.M., p. 26.
[3] C.M., p. 64.
[4] K. Marx, Fondements de la critique de l’économie politique, op. cit., II, pp. 167-168.
[5] K. Marx, O Capital, III, trad. francesa de G. Badia e C. Cohen-Solal, tomo 1, p. 234.
[6] Id., 1, pp. 234-235.
[7] Id., 1, p. 231.
[8] Id., 1, p. 236.
[9] Id., 1, p. 260.
[10] Ibid.
[11] C.M., p. 78.
[12] C.M., p. 30.
[13] Capital, III, 3, p. 254.
[14] Marx-Engels, Lettres sur “Le Capital”, ed. G. Badia, Paris, 1964, p. 174.
[15] Fondements de la critique de l’économie politique, op. cit., II, p. 275.
[16] C.M., p. 29.
[17] C.M., p. 81.
[18] C.M., p. 31.
[19] C.M., p. 112.
[20] C.M., p. 108.
[21] C.M., p. 108.
[22] K. Marx, Le Capital, éd. Sociales, I, tomo 3, p. 55.
[23] K. Marx, Fundamentos da crítica da economia política, op. cit., II, 223.
[24] Id., II, p. 225.
[25] C. M., p. 108.
[26] C. M., p. 64.
[27] C. M., pp. 77-78.
[28] C. M., p. 85.
[29] C. M., p. 109.
[30] C. M., p. 113.
[31] C. M., p. 126.
[32] C. M., p. 135.
[33] C. M., p. 122.
[34] C. M., p. 122.
[35] C. M., p. 25.
[36] C. M., p. 135.
[37] C. M., p. 136.
[38] C. M., pp. 29-30.
[39] C. M., p. 139.
[40] C. M., p. 140.
[41] C. M., p. 142.
[42] C. M., p. 140.
[43] C. M., p. 142.
[44] C. M., p. 141.
[45] C. M., p. 144.
O presente ensaio é uma transcrição da versão que se encontra disponível no seguinte livro: Integração capitalista e ruptura operária. Porto: As Regras do Jogo, 1977. Original em: Monopoly Capital, p. 187.

Faça um comentário