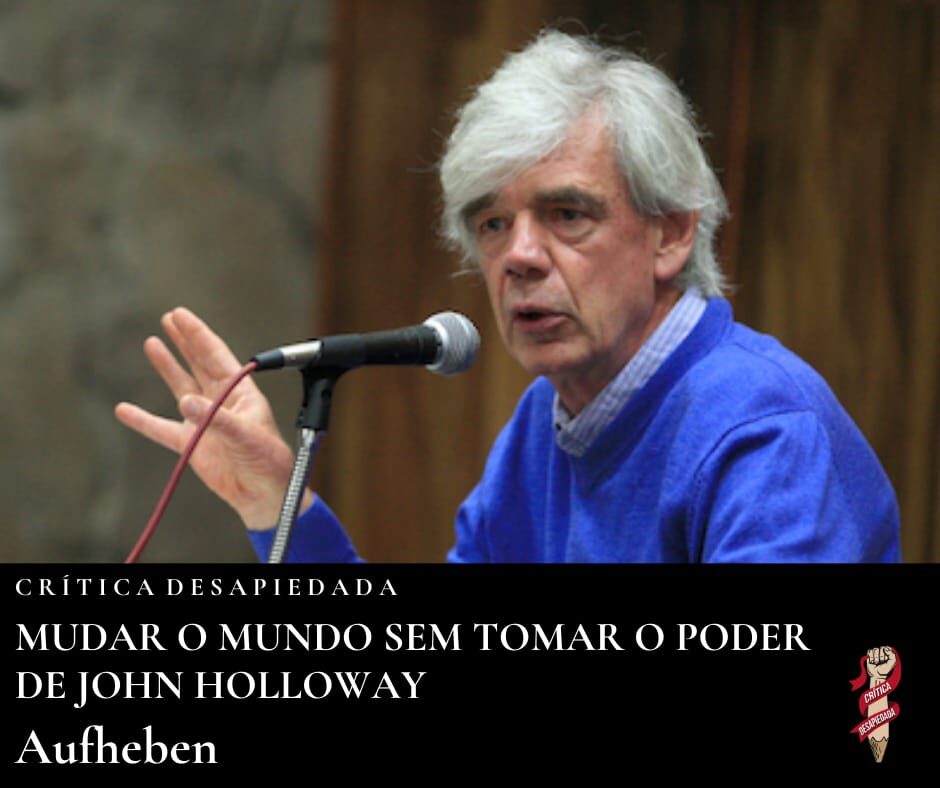
Original in English: Review of Change the World Without taking Power
[Nota do Crítica Desapiedada – CD]: Para conhecer mais sobre a posição política do Aufheben e suas publicações, conferir: Aufheben (1992-…)

Introdução
Desde os eventos de Seattle no outono de 1999, houve inúmeros livros e artigos que pretenderam definir ou explicar o movimento antiglobalização/anticapitalista, ou então procuraram dar a esse “movimento” bastante amorfo alguma expressão teórica. À primeira vista, Mudar o mundo sem tomar o poder[1] parece apenas mais um livro pegando carona nessa onda pós-Seattle. De fato, com sua imagem de capa de um “ativista” de balaclava mal desenhado, descendo de uma parede com um pincel na mão, é claro que os editores esperam explorar o crescente mercado de livros antiglobalização. No entanto, em uma inspeção mais minuciosa, Mudar o mundo sem tomar o poder não é apenas mais um livro desse tipo.
Em suas obras anteriores, John Holloway fez importantes contribuições teóricas – particularmente com suas contribuições para o debate das décadas de 1970 e 1980 sobre a natureza do Estado[2]. Em Mudar o mundo sem tomar o poder, Holloway tenta revisar radicalmente a noção de mudança revolucionária à luz tanto do fracasso do projeto revolucionário no século XX quanto da emergência do movimento antiglobalização/anticapitalista dos últimos anos.
No entanto, como ele mesmo admite, grande parte de suas obras anteriores foram escritas em um estilo muitas vezes obscuro e difícil que fazia poucas concessões ao leitor não acadêmico. Além disso, ao desenvolver o que muitas vezes eram formulações teóricas altamente abstratas, Holloway raramente extraía suas implicações políticas. Em contraste, em Mudar o mundo sem tomar o poder, Holloway se esforça ao máximo para tornar o que ele diz acessível. Mas ao fazê-lo, Holloway faz o seu melhor para não sacrificar seu rigor teórico.
Baseando-se nas teorias de Marx sobre alienação e fetichismo, Holloway monta um ataque formidável ao objetivismo do marxismo tradicional, e mostra como tal objetivismo leva a uma visão centrada no Estado[3] da transformação revolucionária. No entanto, ao atacar o objetivismo do marxismo tradicional desta forma, Holloway evita a armadilha de cair no pessimismo e derrotismo do pós-modernismo e do “pós-marxismo”. É claro que tal crítica ao objetivismo do marxismo tradicional e seu significado para os movimentos sociais contemporâneos está longe de ser nova. Na verdade, é um projeto que tem sido regularmente retomado nas páginas de Aufheben. No entanto, o que é importante sobre este livro é que Holloway faz uma tentativa séria de definir esta crítica de uma maneira clara e sucinta.
Há muito em Mudar o mundo sem tomar o poder com o qual concordaríamos, e esperamos que ele encontre um grande público particularmente entre os ativistas do movimento anticapitalista, no entanto, como veremos, só podemos recomendá-lo com certas reservas.
O Grito
Holloway toma como ponto de partida o que ele chama de “grito”: isto é a recusa subjetiva imediata da vida sob o capitalismo. Ao assumir este ponto de partida, Holloway pode ser visto como se colocando inequivocamente do lado do ativista antiglobalização/anticapitalista. Afinal, o que une os diversos indivíduos que compõem os black blocs, os fóruns sociais, os zapatistas e os agricultores indianos, senão uma recusa dos horrores e banalidades do capitalismo enraizada em sua experiência direta ou indireta?
Para Holloway, é baseando-se na imediaticidade do “grito” que o movimento anticapitalista/antiglobalização oferece a esperança de se libertar da política fracassada de mudança social que foi dominante durante grande parte do século XX. No entanto, ao abraçar a “nova política” do movimento anticapitalista/antiglobalização, Holloway está preocupado em não sucumbir à reação instintiva de muitos dentro do movimento que leva à rejeição tanto da teoria em geral quanto das ideias de Marx em particular. De fato, uma das primeiras tarefas do livro de Holloway é mostrar como essa reação muito instintiva à teoria e à política do marxismo tradicional pode ser fundamentada nas ideias de Marx.
Para Holloway, o problema de grande parte da teoria social que veio a informar a política da mudança social é que ela se tornou dominada pelo positivismo que se tornou a abordagem ortodoxa na maioria das ciências sociais no século XX. O estudo da sociedade tomou como modelo o método científico das ciências naturais em que o teórico é um observador objetivo e separado que busca analisar o que é imediatamente aparente e mensurável. Este ponto de partida e método leva à uma “lógica da identidade” que reduz as relações sociais a uma relação mecânica e objetiva entre coisas.
Essa “lógica da identidade” tende a impedir a possibilidade de transformação social interna às próprias relações sociais. Claro, para a teoria social burguesa, esta exclusão da mudança interna serve bem como uma defesa ideológica do status quo. No entanto, para uma teoria social mais crítica, essa abordagem positivista exige que as esperanças de mudança social tenham de ser importadas de fora (por exemplo, na forma do desenvolvimento autônomo da tecnologia ou na forma do partido revolucionário trazendo consciência ao proletariado etc.). Contra isso Holloway argumenta:
O ponto de partida da reflexão teórica é oposição, negatividade, luta. É da raiva que nasce o pensamento, não dá postura da razão, não do ponderado-sentir-e-refletir-sobre-os-mistérios-da-existência que é a imagem convencional do “pensador”. Começamos pela negação, pela dissonância. A dissonância pode tomar muitas formas. Um resmungo inarticulado de descontentamento, lágrimas de frustração, um grito de raiva, um rugido confiante. Um mal-estar, uma confusão, um desejo, uma vibração crítica. (p. 1)[4].
O problema é que a teoria social mais radical e desenvolvida que emergiu no século XIX, e que viria a dominar a política de mudança social no século XX, surgiu ela mesma sob o feitiço do positivismo. Para os teóricos marxistas da Segunda Internacional no final do século XIX, o marxismo era sobretudo uma ciência e, como tal, eles passaram a interpretar as ideias de Marx em termos positivistas. Para Holloway, isso se tornou evidente na política de mudança social conduzida pelo Estado que a Segunda Internacional legou ao século XX.
Embora a Segunda Internacional se dividisse entre reformistas e revolucionários, para ambos os lados dessa divisão o Estado era visto como uma ferramenta essencial para realizar o socialismo. Para os reformistas que passaram a dominar os partidos social-democratas em todo o mundo, o Estado era algo essencialmente neutro em classe e, como tal, poderia ser capturado como era e usado para outros interesses da classe operária e da causa do socialismo. Em contraste, os revolucionários reconheceram que o Estado, como atualmente constituído, era um estado burguês; por conseguinte, era necessário reconstruir o Estado para que pudesse ser utilizado pela classe operária.
Tanto para os reformistas quanto para os revolucionários, o Estado era visto como uma coisa mais ou menos adequada para ser usada como principal ferramenta para realizar a transformação social. De fato, como aponta Holloway, essa concepção do Estado também era compartilhada pelo anarquismo tradicional. A única diferença é que para os anarquistas o Estado era uma ferramenta que só poderia ser usada pela classe dominante e que não poderia ser reconstruída.
Baseando-se em suas contribuições para o debate sobre o Estado, Holloway critica tais concepções instrumentalistas que fetichizam o Estado como uma coisa. Em vez disso, Holloway argumenta que o Estado deve ser visto como uma forma social distinta que surge das relações sociais do capitalismo. O Estado não é essencialmente uma coisa que é imposta externamente a nós, mas é uma forma que surge da atividade prática entre as pessoas em uma sociedade baseada na troca generalizada de mercadorias.
Ao apresentar sua crítica às concepções instrumentalistas do Estado que sustentam a política de mudança social orientada para o Estado do século XX, Holloway é levado a definir a teoria de Marx do fetichismo e da alienação sobre a qual essa crítica se baseia: como as relações entre as pessoas que surgem de sua atividade prática aparecem sob o capitalismo como uma relação entre coisas e, consequentemente, como o movimento das coisas, os produtos de sua atividade prática, passam a dominar as pessoas. No entanto, Holloway não desenvolve essa teoria do fetichismo e alienação nos termos familiares de Marx. Em vez de falar em termos de capital e trabalho, Holloway fala nos termos genéricos do “poder sobre” e do “poder para (fazer algo)” e em termos do domínio do “feito” sobre o “fazer”.
Deve-se admitir que evitar os termos mais familiares associados a Marx tem certas vantagens para Holloway. Primeiro, permite que Holloway, em um estágio inicial do livro, evite introduzir o “jargão” de Marx, que pode muito bem repelir todos os anarcos e outros que são de alguma forma alérgicos a Marx. Em segundo lugar, permite que Holloway evite uma interpretação economicista que pode surgir se fossem utilizados termos como trabalho, força de trabalho e capital. De fato, os termos de Holloway servem para enfatizar a unidade essencial do político e do econômico, que é um aspecto que ele está interessado em salientar. Em terceiro lugar, ao usar estes novos termos, Holloway é capaz de revigorar a teoria do fetichismo de Marx e ir além das velhas formulações para uma nova geração de revolucionários.
No entanto, ao falar em termos de “fazer” e “feito”, “poder sobre” e “poder para”, Holloway não está apenas substituindo sinônimos na teoria de Marx, mas de uma forma importante está generalizando estes conceitos. Como veremos mais tarde, quando formos considerar nossas reservas relativamente à Mudar o mundo sem tomar o poder, tal generalização é problemática.
Evitando o mar azul profundo
É claro que a crítica ao positivismo do marxismo tradicional da Segunda e Terceira Internacionais não é novidade. É uma crítica que tem suas origens na década de 1920 com os escritos de Lukács e Korsch e tornou-se proeminente no desenvolvimento do que ficou conhecido como marxismo ocidental – um desenvolvimento que deveria tomar um rumo decididamente pessimista.
A derrota do movimento operário clássico após a primeira guerra mundial trouxe consigo uma reavaliação crítica do marxismo tradicional. O marxismo da Segunda e Terceira Internacionais agiu como se a classe operária fosse uma categoria positiva que subsistia antes de sua subsunção ao capital. Como tal, a relação da classe operária com o capital era essencialmente externa. Como consequência, a ideologia burguesa era meramente uma mistificação que era imposta à classe operária de fora e se opunha aos próprios interesses de classe objetivos do proletariado. A partir disso, seguiu-se que a tarefa dos marxistas era simplesmente combater as mistificações da propaganda burguesa e ensinar a classe operária a verdade objetiva revelada pelas doutrinas do socialismo científico. A transformação socialista, seja por reforma ou revolução, dependia meramente de colocar a consciência subjetiva da classe operária de acordo com sua situação objetiva de classe.
No entanto, com o fracasso das revoluções operárias que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, e com a degeneração cada vez mais evidente da Revolução Russa, essa concepção da classe operária foi posta em causa. Se o capital e o trabalho fossem vistos como categorias mutuamente determinantes, então a ideologia burguesa não poderia ser vista como simplesmente imposta à classe trabalhadora. Em vez disso, foi preciso admitir que a ideologia burguesa adotada pela classe operária estava enraizada em sua própria experiência prática e material. O fetichismo das relações sociais, que ao fazer as relações entre as pessoas aparecerem como uma relação natural e eternamente ordenada entre as coisas, era uma ilusão real.
Para Lukács, a saída para tal fetichismo era por meio do Partido que superava o ponto de vista fetichista limitado de cada proletário individual, fornecendo uma visão da totalidade. No entanto, para aqueles da Escola de Frankfurt, que escreveram durante a ascensão tanto do stalinismo quanto do fascismo, pouco conforto poderia ser obtido invocando-se o totalitarismo do Partido. Em suas mãos, a teoria do fetichismo tornou-se uma doutrina do desespero. Para eles, os intelectuais socialistas estavam condenados a trabalhar incessantemente para fazer críticas à sociedade capitalista que seriam inevitavelmente ignoradas pelos únicos que poderiam colocar tais críticas em prática – a classe operária.
Nas últimas décadas, o positivismo não só do marxismo tradicional, mas também da maioria das ciências sociais tradicionais tem sido atacado por escritores pós-estruturalistas e pós-modernos. Armados com o anti-essencialismo, o relativismo e a rejeição das “grandes narrativas”, os pós-modernos têm questionado tanto a suposta objetividade da ciência positivista quanto a ideia do sujeito racional burguês. Como tal, eles desenvolveram, com efeito, uma teoria do fetichismo. No entanto, como a Escola de Frankfurt antes deles, a teoria pós-moderna do fetichismo acabou ainda mais como um suspiro desesperado. Varrendo tudo, exceto o fetichismo das aparências, não há esperança de escapar. A conclusão é ou uma luta sem fim contra algum poder amorfo, como em Foucault, ou então a luta é abandonada e o mundo estranhado[5] do capitalismo é abraçado e celebrado.
Assim, como Holloway está profundamente ciente, ao fugir do diabo do positivismo, a teoria do fetichismo caiu facilmente no profundo mar azul do desespero. Holloway está bem ciente de tal perigo, tendo, sem dúvida, visto muitos antigos camaradas passarem do marxismo ao blairismo via pós-modernismo. No entanto, é um perigo não restrito ao modismo acadêmico. No atual período de recuo da classe operária, a noção de que a classe operária foi irremediavelmente integrada à sociedade burguesa é comum e aparece em vários disfarces de maior ou menor sofisticação. Ela aparece, por exemplo, no desespero do primitivismo, seja dos anarcos verdes ou de Camatte.
No entanto, Holloway argumenta – e este é talvez o argumento mais importante de todo o livro – que tais teorias do fetichismo são elas mesmas fetichistas. Elas tomam o fetichismo como um estado do ser imposto de uma vez por todas, em vez de como um processo que tem que ser continuamente renovado e que envolve sua antítese – desfetishismo. Como tal, a classe operária somente é integrada provisoriamente na sociedade burguesa e o processo é sempre passível de ruptura mais cedo ou mais tarde.
Para Holloway, tanto o Estado quanto o capital não são coisas; eles não existem independentemente um do outro ou de nós. O Estado e o capital são dois lados de uma relação social que se constitui por meio de um processo constantemente renovado. Este processo não é nada além do que a luta de classes.
Jogando o bebê fora
Como vimos, Holloway se propõe a se colocar do lado do movimento antiglobalização. Ao fazê-lo, Holloway estabelece uma crítica clara e acessível das concepções positivistas e objetivistas do marxismo tradicional sem cair no pessimismo da teoria crítica como a da Escola de Frankfurt ou do pós-modernismo. No entanto, ao tomar o lado do movimento antiglobalização, sem dúvida diante do cinismo de seus antigos camaradas e colegas, Holloway acaba apenas torcendo dos bastidores. De fato, o que talvez seja mais marcante sobre Mudar o Mundo Sem Tomar Poder é sua atitude completamente acrítica em relação ao movimento antiglobalização e, em particular, aos zapatistas.
Este resultado não é um acidente. A atitude acrítica de Holloway pode ser vista surgindo a partir do desenvolvimento de sua crítica ao marxismo tradicional. Isso se torna evidente se considerarmos a teoria de Holloway sobre classe.
Holloway ataca corretamente a abordagem sociológica à questão da classe. Esta abordagem, em primeiro lugar, busca definir a classe por um certo conjunto de características fixas. Em seguida, uma vez que a classe é definida de tal forma, é então perguntado como essa classe age em relação às outras classes. Contra essa abordagem, Holloway argumenta que a classe define e se constitui através da luta de classes. Como tal, a classe não é uma identidade fixa, mas um processo.
Como aponta Holloway, essa concepção de que a classe trabalhadora é constituída por meio da luta de classes foi reconhecida e desenvolvida pelos autonomistas italianos nos anos 1960 e início dos anos 1970[6]. Para os autonomistas italianos, a história do capitalismo era uma história de luta de classes. A classe trabalhadora se compõe repetidamente como uma classe contra o capital e, consequentemente, o capital é obrigado a reagir reorganizando a produção a fim de decompor a classe trabalhadora. Assim, a história do capitalismo é uma espiral contínua de composição de classe e decomposição centrada em torno ao processo de produção de mais-valor. Assim, enquanto o marxismo tradicional via o capital como o sujeito ativo que se impunha à classe trabalhadora, os autonomistas viam a classe trabalhadora como um sujeito ativo que impulsionava o desenvolvimento do capitalismo para a frente.
No entanto, apesar de seus méritos em compreender a classe como um processo histórico que se constitui através do processo de luta de classes, Holloway identifica dois problemas interrelacionados na abordagem dos autonomistas italianos. Em primeiro lugar, na medida em que simplesmente inverteram os papéis do capital e do trabalho para que a classe trabalhadora se tornasse o sujeito ativo, os autonomistas corriam o risco de retornar a uma concepção positivista da classe trabalhadora. A classe trabalhadora poderia ser vista facilmente como se constituindo como uma classe auto-subsistente independente do capital. Como tal, os autonomistas tinham apenas mudado os sinais da equação do marxismo tradicional. Enquanto os marxistas tradicionais tinham visto o capital como se impondo sobre uma classe trabalhadora pré-existente, os autonomistas viram a classe trabalhadora se impor sobre o capital. Mas em ambos os casos, como no marxismo tradicional, essa relação podia ser vista como externa[7].
Na medida em que os autonomistas viam a relação entre o capital e a classe trabalhadora como uma relação externa, eles tenderam a desenvolver a noção de dois sujeitos independentes – capital e trabalho – e, consequentemente, do confronto entre duas estratégias. O conflito de classes era visto como essencialmente político e a teoria do valor, que mostra a interdependência do capital e do trabalho, tendia a ser abandonada. Para Holloway, ao negar a dependência mútua do capital e da classe trabalhadora, ao vê-los como categorias positivas auto-subsistentes, os autonomistas tenderam a superestimar o poder de ambos[8].
O segundo problema do autonomismo italiano era que as descrições históricas do desenvolvimento do capitalismo guardavam o perigo de projetar sujeitos sociais particulares que emergiam das lutas no local de produção, como os sujeitos exclusivos ou mais importantes de toda uma época. Lutas que não surgiram no local de produção, e aquelas que surgiram do local de produção, mas que não eram consideradas típicas ou dominantes, eram necessariamente negligenciadas e consideradas sem importância. Como tal, as primeiras teorias autonomistas eram claramente operaístas, no sentido inglês do termo, e negavam a validade das lutas que emergiam fora do local de trabalho.
Contra esses perigos inerentes ao marxismo autonomista, Holloway insiste tanto na pluralidade quanto na negatividade do grito. Para Holloway, a classe trabalhadora constitui-se como um sujeito radical através da sua recusa em ser reduzida a ser a classe trabalhadora. Com base nisso, Holloway busca abraçar a multiplicidade de recusa – “a política da diversidade” – que é tão evidente e tão celebrada no movimento antiglobalização.
No entanto, os autonomistas italianos posteriores também procuraram abraçar a crescente multiplicidade de lutas fora do local de trabalho no final da década de 1970, desenvolvendo o conceito de fábrica social. Ao fazê-lo, os autonomistas anunciaram o novo sujeito social – o operário socializado – em que toda a atividade foi reduzida ao trabalho: do trabalho doméstico aos estudos até ao tirar férias. O problema com isso, é claro, é que todas as diferenças são abolidas, toda atividade é trabalho – tudo é o mesmo. Com tudo aplainado, não há espaço para análise crítica[9].
Holloway faz efetivamente o mesmo, mas da perspectiva oposta. Ao generalizar o trabalho e o capital ao domínio do “feito” sobre “fazer”, Holloway dissolve o trabalho em atividade humana geral. É claro que é verdade que toda a atividade humana dentro da sociedade capitalista é de alguma forma subordinada e moldada pelo capital. Mas há aquela atividade que produz o capital diretamente e aquela que não produz – trabalho e não-trabalho é uma diferença importante. Isto pode não significar que uma forma seja inerentemente mais importante do que outra em termos de mudança social, mas que as diferenças devem ser reconhecidas e sua importância relativa será diferente em diferentes circunstâncias históricas.
Essa indefinição das diferenças em relação ao trabalho sustenta uma indefinição mais ampla das diferenças dentro e entre classes que leva Holloway, como muitos marxistas autonomistas, a uma aceitação acrítica de todas as formas de recusa. Holloway se aproxima perigosamente de uma posição humanista liberal. Afinal, sob o capitalismo, a atividade de todos – inclusive do capitalista – é alienada. Por isso, por baixo “somos todos humanos”. A classe se torna tão fluida que é dissolvida em um humanismo geral. Para Holloway, não há “eles e nós”, somente nós! Mas há um “eles”: há aqueles que estão bem satisfeitos nos papéis como personificações do capital e estão bastante preparados para destruir qualquer um que ameace o domínio do capital!
“Eu grito, portanto, sou da classe trabalhadora”
No entanto, talvez seja o ponto de partida de Holloway que é mais problemático. O grito é apenas um momento abstrato em nosso ser. Se quisermos estar neste mundo, devemos obedecer de uma forma ou de outra. Por mais que gritemos, não temos outra opção a não ser fazer o nosso próprio caminho neste mundo. Para sobreviver, devemos, como indivíduos, subordinar-nos ao processo de reprodução ampliada do próprio capital. O grito sai dessa conformidade forçada.
Em um sentido muito real, o capital não é nada além do que a nossa separação provocada pela nossa obediência. Não é nada mais do que a reprodução das relações reificadas e alienadas que nos unem através da nossa própria separação. Na verdade, o poder do capital é a nossa separação. O capital nunca é mais poderoso do que quando existimos como indivíduos meramente isolados, por mais que possamos gritar como resultado.
Como tal, a revolução nada mais é do que a superação desta separação na qual buscamos reconstituir as relações humanas não mediadas pelas coisas e seu preço. Mas, ao superar nossas separações, temos que reconhecer as diferenças objetivas existentes que nos separam a fim de superá-las. A revolução envolve um processo de totalização – na verdade, um processo de recomposição – no qual encontramos unidade em nossa diversidade contra o capital e todos aqueles que buscam defendê-lo. Nesse sentido, temos que encontrar nossa unidade como classe contra o capital; no entanto, isto não significa que a classe seja entendida como uma coisa positiva separada do capital, mas como um processo que tem potencial para ir além de si mesmo – bem como o perigo de dissolver-se em indivíduos atomizados ou interesse seccional que são recuperados e reintegrados ao capital.
O grito é necessário, mas não suficiente. O grito pode ser a semente da revolução, como Holloway afirma, mas a menos que se desenvolva, a menos que se ligue e faça uma causa comum com outros gritos, então tudo pode facilmente se tornar mais um tijolo na parede. Todas as lutas que são interrompidas tornam-se recuperadas e reintegradas ao mundo como ele é.
A falha em reconhecer tanto as condições objetivas que nos separam e dão origem a diferentes gritos de circunstâncias diferentes quanto o perigo sempre presente de recuperação em que o grito é absorvido e se torna uma forma de conformidade é o calcanhar de Aquiles do livro de Holloway. Holloway se encaixa facilmente em uma liderança de torcida de qualquer forma de resistência – uma liderança de torcida que muitas vezes é pouco mais do que uma celebração de nossas derrotas e atomização em nome da “maravilhosa diversidade das lutas”. Com uma atitude tão acrítica e complacente, o perigo é que sejamos incapazes de encontrar maneiras de seguir em frente e de reconhecer o perigo da recuperação de nossas lutas.
Holloway conta a história de um camponês que peida como sinal de desafio toda vez que via o proprietário da terra. Este “grito”, Holloway nos diz que é a semente que pode levar à revolução. Pode ser que seja; mas se o camponês continua apenas peidando cada vez que vê seu proprietário, então este gesto se torna apenas uma compensação por sua sujeição contínua. Se o camponês continua satisfeito, não indo além de peidar, então este peido se torna apenas um sinal de aquiescência ressentida.
Holloway argumenta que o ponto de vista dos autonomistas italianos era o do militante de fábrica que buscava desenvolver o poder autônomo da classe trabalhadora no local de produção. A posição de Holloway pode ser facilmente vista como a do humilde professor que não está mais confiante o suficiente para dizer às massas oprimidas o que fazer, mas em vez disso torce acriticamente das linhas laterais, confortando-se com a noção de que “Eu grito, portanto, sou da classe trabalhadora!”.
Conclusão
Como aponta Holloway, Mudar o mundo sem tomar o poder é um produto da incerteza após a queda da URSS e da desilusão geral com a velha política da esquerda que ao longo do século XX se concentrou na conquista do poder estatal. Para ser justo com Holloway, ao contrário de muitos em sua posição, ele não sucumbiu ao cinismo do pós-modernismo, nem vendeu sua alma ao blairismo. Em vez disso, Holloway fez uma tentativa corajosa de desenvolver uma nova política para o século XXI. Ao fazê-lo, ele admite prontamente que não tem todas as respostas. Ele até admite que pode ter jogado fora o bebê com a água do banho – e achamos que ele pode muito bem ter feito isso. No entanto, apesar de nossas reservas, Mudar o mundo sem tomar o poder é um livro interessante e que deve ser lido amplamente.
[1] A versão brasileira do livro foi publicada em: Mudar o Mundo sem Tomar o Poder, John Holloway. São Paulo, SP: Editora Viramundo, 2003. O pdf do livro pode ser encontrado no seguinte link: https://drive.google.com/file/d/1w6mqcqdcU9WfRZPhXx6I3MSgVODdbPZY/view?usp=sharing. (NT)
[2] Veja nossa resenha do “The State Derivation Debate”, Aufheben 2 (Verão de 1993).
[3] Outra tradução possível para “state-centred” é “estatocêntrica”. Ficaria, portanto, uma visão estatocêntrica (NT).
[4] “O ponto de partida da reflexão teórica é a oposição, a negatividade, a luta. O pensamento nasce da ira, não da quietude da razão; não nasce do fato de se sentar – raciocinar – e refletir sobre os mistérios da existência, fato que constitui a imagem convencional do que é ‘o pensador’” (HOLLOWAY, 2003, p. 9).
[5] “Mundo estranhado”, tradução de “estranged world”, refere-se ao processo de estranhamento, segundo o qual as relações sociais passam a ser vistas apenas como relações entre coisas. (NT)
[6] Em nosso artigo de revisão do livro Leitura Política de o “Capital” de Harry Cleaver e Storming Heaven de Steve Wright (ver “From Operaismo to ‘Autonomist Marxism’” nesta edição) procuramos fazer uma distinção clara entre os três termos: operaísmo, autonomia e “marxismo autonomista”. Operaísmo se refere às teorias desenvolvidas nos anos 1960 e início dos anos 1970 dentro do movimento italiano deste nome que se concentrava no local de trabalho e no operário de massa. Autonomia se refere às teorias desenvolvidas no final dos anos 1970 que viram o operário de massa ser substituído pelo “operário socializado” como o sujeito revolucionário. “Marxismo autonomista” é o termo para aquela escola de marxismo baseada em grande parte nos EUA que tem procurado defender e propagar as teorias do autonomismo italiano desde o final dos anos 1980. Holloway não faz tais distinções e usa o termo autonomismo para se aplicar a todos. Seguiremos o uso de Holloway nesta revisão.
[7] Holloway aceita que uma concepção positiva de classe não decorre necessariamente da teoria autonomista italiana. No entanto, esta concepção positivista de classe foi melhor desenvolvida por Toni Negri; e, como Holloway aponta, ainda é evidente em seus escritos mais recentes, incluindo Império, no qual a “multidão” se opõe externamente ao “império”. Veja “From Operaismo to ‘Autonomist Marxism’” nesta edição.
[8] Este é um ponto que é feito em nossa crítica à análise autonomista da crise do petróleo e do Oriente Médio apresentada por Midnight Notes em seu livro Midnight Oil. Ver “Review: Midnight Oil: Work, Energy, War, 1973-92”, Aufheben 3 (Verão, 1994) e “Escape from the Law of Value?”, Aufheben 5 (Outono, 1996).
[9] Para nossas críticas à tendência da autonomia de tornar toda a classe trabalhadora igual em sua teoria do operário socializado, ver “From Operaismo to ‘Autonomist Marxism’” nesta edição.
Traduzido por Guilherme Corrêa, a partir da versão disponível em: http://libcom.org/library/review-change-world-aufheben-11. Revisado por Alexandre Guerra.

Faça um comentário