Aventuras nas guerras culturais: um artigo-resenha*
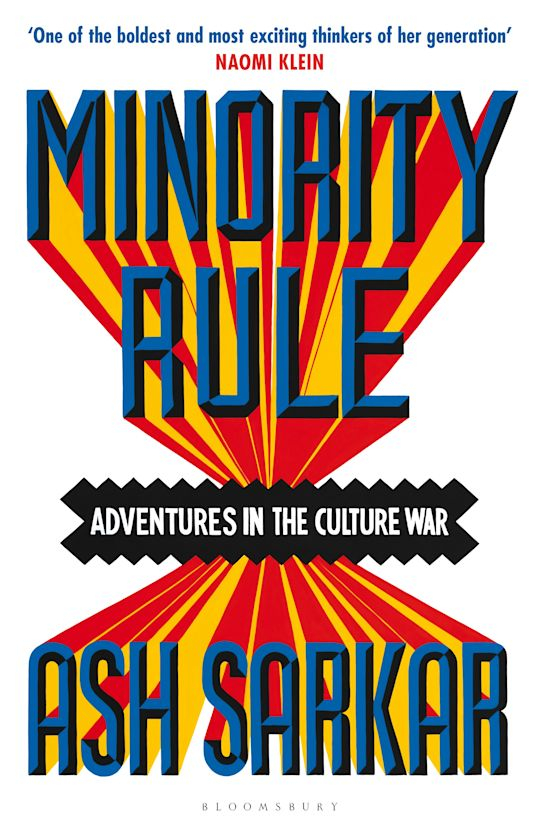
Ash Sarkar, editora-contribuinte na Novara Media, publicou este ano seu primeiro livro, Minority Rule†, com o provocador subtítulo “Adventures in the Culture Wars” [Aventuras nas Guerras Culturais]. A Novara Media foi fundada em 2011 e alcançou notoriedade na esteira do movimento estudantil como um órgão para notícias e análises políticas com uma inclinação autonomista[1]. No entanto, cresceram consideravelmente durante o mandato de Jeremy Corbin como líder do Partido Trabalhista (2015-2020) na medida em que eles começaram a apoiar entusiasmadamente sua liderança e se tornaram alguns de seus apoiadores mais eloquentes. Desde a renúncia de Corbyn da função há 5 anos, Sarkar e seus colegas da Novara retomaram uma posição mais crítica no partido, mas nunca se recuperaram politicamente de seus anos oportunistas. Sarkar descreve sua política como “marxista” e talvez seja mais bem conhecida por sua explosão irritada no Good Morning Britain, no qual ela se declarou “comunista” e chamou Piers Morgan de idiota[2]. Em Minority Rule, Sarkar analisa o papel da mídia ao longo das últimas décadas na fabricação e no direcionamento da indignação popular, em nos colocar uns contra os outros e nos distrair dos problemas reais diante de nós. Inevitavelmente, a política identitária – tanto em suas encarnações de esquerda como de direita – desempenham um papel-chave nesta história e isto compõe um tema central na investigação de Sarkar.
Política identitária da esquerda
O ponto de partida dela é uma crítica da “esquerda”, que, diz ela, distorceu o que Sarkar apresenta como a essência revolucionante da política identitária em uma aberração liberal, o que resultou em uma virada individualista e contraproducente nos últimos anos. Sarkar relembra várias experiências no meio esquerdista nas quais tentativas de se organizar foram desestabilizadas pelas “olimpíadas da opressão” e apresenta uma tendência geral de que a obsessão com a experiência pessoal e a vitimização têm desempenhado um papel ativamente destrutivo em projetos coletivos; ela contrapõe isso a grupos como o Combahee River Collective (CRC) e o Partido dos Panteras Negras (PPN)[3]. Voltando ao comunicado do CRC (escrito em 1974, publicado em 1977) que cunhou o termo “política identitária”, Sarkar argumenta que sua intenção original era coletiva, socialista e revolucionária. Comparando isto à política identitária da esquerda hoje, Sarkar extrai três ideias-chave nocivas predominantes nesta última: o primado das “experiências vividas”, a insistência na “diferença irredutível” e a presunção inconteste de “interesses concorrentes” (p. 32). A ideia de que nossos interesses são incompatíveis entre si com base em nossas diversas categorias identitárias e que nossas diferenças importam mais que aquilo que temos em comum enquanto trabalhadores de fato destrói a solidariedade e Sarkar obviamente tem bastante razão em apontar isso. Além do mais, como nota Sarkar, a preferência pela “experiência vivida” como proeminente levou à criação de “capital social a partir do sofrimento”, criando “um incentivo perverso para se agarrar à nossa vitimização em vez de mudar as condições que a criaram” (p. 65).
No entanto, a afirmação de Sarkar de que estas tendências representam um desvio do que ela considera como o núcleo revolucionário da política identitária está assentado em um terreno bem mais instável. No caso do CRC, talvez seja verdade que sua intenção era esta, já que escrevem sobre a necessidade da “destruição dos sistemas político-econômicos do capitalismo e do imperialismo bem como do patriarcado[4]”. Elas “muitas vezes [achavam] difícil separar raça de classe e da opressão sexual” porque, para as mulheres negras da época, estas eram “na maioria das vezes vividas simultaneamente”. Consequentemente, elas se baseiam nas “contribuições políticas” dos movimentos feminista e antirracista, talvez de maneira mais significativa na ideia de que “o pessoal é político”. No que diz respeito a asserções do primado da experiência individual, isso é bastante inequívoco; elas “gastaram muita energia examinando a natureza cultural e vivencial de nossa opressão” e, assim, estas experiências se tornaram a base principal de sua política. Além do mais, um tanto desconcertante para alguém que se descreve como “marxista”, Sarkar não contesta a alegação do CRC de que os textos de Marx e Engels “concebiam a classe trabalhadora como ‘meros trabalhadores sem raça e sem sexo’”. A necessidade de abordar as maneiras particulares com as quais certos setores da classe trabalhadora são oprimidos é fundamental e óbvia o suficiente; de fato, os próprios Marx e Engels reconheciam isso em sua própria análise, já que indicavam repetidamente as maneiras específicas em que mulheres ou migrantes eram explorados em sua época e as dinâmicas disto dentro da classe trabalhadora mais ampla[5].
E, dentro do marxismo, encontramos ferramentas teóricas bem mais adequadas para a tarefa de se opor a essas opressões do que a ideia bastante básica de “simultaneidade”; entendemos que essas opressões não só coincidem uma com a outra, mas são produtos do mesmo processo histórico: o desenvolvimento da sociedade de classes. Sarkar aborda isso em certa medida mais adiante, mas apenas no que diz respeito ao conceito de raça, que ela descreve como uma “tecnologia” desenvolvida com o intuito expresso de justificar a escravidão e o colonialismo e depois perpetuada com o intuito de dividir a classe trabalhadora (p. 237).
Ademais, como vimos nos no último século e pouco, a assimilação de grupos de minorias se tornou uma ferramenta tão importante quanto a marginalização no kit de sobrevivência da classe dominante. Embora a experiência da marginalização possa instigar alguém a adotar perspectivas revolucionárias, não há nada por si só inerentemente revolucionário em pertencer a uma minoria identitária. Então hoje, é bastante possível ser, por exemplo, tanto uma lésbica negra quanto uma CEO. É por este motivo que o argumento da identidade leva naturalmente a becos sem saída reformistas (campanhas com temática única, demandas por representação etc.); e é por este motivo que qualquer tentativa de resgatar a “política identitária” do reformismo é completamente errônea. O desenvolvimento essencialmente burguês individualista e reformista da política identitária, então, não é nenhuma aberração da essência da política identitária, mas sua conclusão lógica. E é por esses motivos que a base para abordar a opressão e a exploração específicas as quais estão sujeitos vários setores da classe trabalhadora só pode ser aquele da política independente da classe trabalhadora; não uma concessão pluralista e oportunista à política interclasse e seccional cujo objetivo é a assimilação e a reforma.
Imperialismo
Dada esta tendência inerente ao reformismo, é inevitável que o desfecho lógico da política identitária seja sua adoção pela classe capitalista para legitimar seu regime e, ainda que (como veremos em breve) a análise de Sarkar do por que isso ocorre seja insuficiente, ela está correta em apontar a hipocrisia capitalista aqui. Ela se refere aos exemplos da Coca-Cola e da CIA, dentre outras, abraçando a interseccionalidade em seu treinamento e em seu marketing, e aponta a ironia de a Coca-Cola reconhecer a contínua falta d’água em Flint, Michigan, ao mesmo tempo em que lucra com o mesmo problema em Chiapas, México; de a CIA se anunciar como antidiscriminatória enquanto os EUA e seus Estados satélites bombardeiam indiscriminadamente seus adversários geopolíticos. Sarkar chama esse problema de imperialismo e não está errada em fazer isso.
No entanto, o entendimento de Sarkar, ou pelo menos deste livro, de “imperialismo” parece estar limitado à política imperialista do Reino Unido e dos Estados Unidos e de seus aliados. O imperialismo, contudo, não é apenas a política de um Estado ou bloco de Estados; é a fase do sistema capitalista mundial na qual todos os Estados têm de operar há mais de um século e a força motriz inexorável de toda a política externa dos Estados em todos os lados. Seria inocência e nem um pouco paternalista presumir que Sarkar, uma veterana da esquerda desde o movimento estudantil e autodeclarada marxista, não conhece a metodologia elaborada por Marx e Engels e depois desenvolvida na teoria do imperialismo por Bukharin e Lênin[6]. Mas isso torna sua omissão da crítica de Minority Rule ao imperialismo ainda mais frustrante, pois explicaria de maneira muito mais satisfatória muitos dos problemas que ela identifica.
Por exemplo, a tendência atual na qual os meios de produção e distribuição são concentrados e centralizados nas mãos de organizações cada vez maiores e menos numerosas (como Amazon, Google, Meta e assim em diante) é descrita como uma “virada feudalista” (à la Varoufakis) rumo não à “privatização, [mas ao] cercamento” (p. 258-60). Mas esta tendência à propriedade monopolista com crescente financeirização, especulação e envolvimento do Estado não são obscuras para os marxistas; é exatamente o que define a era capitalista imperialista há mais de um século. É necessário insistir nisso não por dogmatismo, mas porque é crucial para nosso entendimento de como as forças que depauperam e oprimem a classe trabalhadora são as mesmíssimas forças que propulsionam o ímpeto global à guerra. Esta definição mais completa de “imperialismo” revela que esses desenvolvimentos econômicos não são uma regressão em termos do modo de produção, mas mais um passo adiante rumo ao abismo ao qual este sistema nos condena.
Política identitária da direita
Mas Minority Rules não acaba na crítica da “esquerda” – e isso nem é de fato o que constitui a maior parte do livro. Pelo contrário, depois de lidar com a inadequação da resposta da esquerda às guerras culturais da mídia, Sarkar então atribui a questão a como a direita do capital as trama antes de mais nada tanto através da “mídia tradicional” como através das redes sociais. Dali, ela passa a um exame das ilusões e falácias que sustentam vários objetos de discussão da direita e o por quê de terem ganhado tanta força na população em geral. Ao contrário do que foi vendido (algo sobre o qual o controle de Sarkar é, obviamente, limitado), isso na verdade toma a maior parte do corpo de Minority Rule e, sem o primeiro capítulo, teria uma relevância muito maior em sua análise e mensagem (ainda que a linguagem e o humor do “discurso” das redes sociais que Sarkar frequentemente adota possa ser um tanto desagradável). Além dos treinamentos de diversidade e inclusão aqui e ali expandidos para muitas empresas e com conteúdo cada vez mais desconcertante, a maioria das pessoas da classe trabalhadora nem de longe entra em tanto contato com os debates em torno da interseccionalidade quanto com os tópicos de discussão da direita que, como Sarkar demonstra competentemente, continuamente inundam nossa consciência.
A segunda tese central de Sarkar, então, equivale a isso: as guerras culturais são um produto da mídia, orquestradas pela classe capitalista, e em particular sua direita, para canalizar nossa insatisfação para um beco sem saída e nos convencer que o problema é cada um de nós, e não eles e seu sistema. Como ela coloca em vários vídeos promocionais e entrevistas, somos governados por uma elite minoritária – só que não aquela sobre a qual nos contaram. Sarkar esboça a experiência da classe trabalhadora no Reino Unido nos últimos quarenta anos, aproximadamente – a derrota da onda da luta de classes, o desmanche da indústria pesada britânica e do Estado de bem-estar social, a mudança gradual para a propriedade em pequena escala de propriedades e negócios, etc. – e traça como os capitalistas, mas particularmente a direita do capital e sua mídia (no poder, como estiveram na maior parte dessa época, embora aqui ela subestime o papel que a esquerda do capital teve) orquestraram esse processo para servir a seus interesses econômicos e políticos. Isso resultou em uma classe trabalhadora exponencialmente fraturada, ressentida e desconfiada.
Como demonstra Sarkar, ao enfraquecer sistematicamente a solidariedade da classe trabalhadora entre si, a classe capitalista plantou as sementes da distração que agora colhe em abundância na forma de guerras culturais entre a política identitária da direita e a da esquerda. Para ilustrar isso, Sarkar nos leva em pequenas excursões dos pânicos morais recentes em questões como migração e identidade de gênero. Ela também põe a nu a recente virada da mídia tradicional na qual as pessoas de classe trabalhadora britânicas, outrora ridicularizadas como “chavs”, agora constituem a “classe trabalhadora branca” que deve ser defendida de ameaças inventadas (migrantes, pessoas trans, etc.). Depois de abrir as cortinas para expor os charlatões que apertam, furiosos, os botões multiplex de sua máquina de ilusão, Sarkar enfatiza com razão que é a classe trabalhadora como um todo, em ambos os lados das divisões inventadas desses pânicos morais, que está numa situação por estar dividida contra si mesma. Ataques aos salários e às condições implementadas contra trabalhadores migrantes são, então, espalhados para englobar também trabalhadores britânicos brancos; ataques ao serviço de saúde mascarados de combate à “ideologia de gênero” afetam inevitavelmente o serviço de saúde tanto para pessoas cis como para pessoas trans.
Sarkar também observa como desenvolvimentos tecnológicos nas redes sociais foram fundamentais nesse processo nos últimos anos pela maneira como a qual monopolizaram nossa atenção e pensamentos em um nível sem precedentes. Desde que Marx e Engels notaram que “as ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes[7]”, a natureza da duradoura dominação da classe capitalista sobre nossos próprios pensamentos evoluiu significativamente. Na época de Marx e Engels, era possível atribuir essa dominação em grande medida ao fato de a alfabetização básica entre os pobres e a classe trabalhadora ser um fenômeno relativamente recente e ao fato de que qualquer escolaridade além disso era assegurado mais ou menos exclusivamente aos ricos. Nos 180 anos que se seguiram, as taxas de alfabetização cresceram em todo o globo e mídia de massas se proliferou, primeiro na forma do jornalismo sindicalizado e, depois, na forma de redes sociais. Esta última, escreve Sarkar, “democratizou parcial mas dramaticamente a esfera pública”, e os efeitos disto foram “tanto maravilhosos quanto profundamente deprimentes” (p. 83). Contudo, o fato de esta “democratização” ter ocorrido no âmbito do capitalismo é crucial, pois, como com qualquer “democratização” capitalista, a promessa de participação igual na esfera social contradiz a realidade de como os interesses do capital estão constantemente manipulando o peso da influência dos vários participantes.
Crise capitalista
Mais uma vez, porém, a natureza da crise inerente ao funcionamento do capitalismo está ausente da explicação de Sarkar, e isso quer dizer que ficamos basicamente com a impressão de que essas políticas e táticas têm origem na mordacidade de sucessivos governos de direita e centristas. Mas, novamente, isso é consistente com as leis de movimento do capitalismo: à medida que as taxas de lucro caem, a classe capitalista deve inventar maneiras de compensar esta tendência ao mesmo tempo em que desloca tanto do custo quanto possível para a classe trabalhadora, tanto em termos econômicos como, consequentemente, sociais. Crises econômicas periódicas que envolvem desemprego, pauperização e miséria para a classe trabalhadora são uma parte inevitável da existência do capitalismo. Na fase imperialista do capitalismo, a destruição por atacado da infraestrutura de capital necessária para estimular novos ciclos de acumulação exigiu, em última instância, guerra: guerra mundial. Hoje, estamos vivendo no finalzinho do terceiro ciclo global de acumulação do capitalismo. Logo, a indústria pesada foi desmantelada nos centros capitalistas e deslocada para suas periferias no estrangeiro, onde o trabalho assalariado é mais barato (e a composição orgânica do capital, menor); logo, a pressão para baixo nos salários em relação à inflação em todos os lugares; logo, a redução da assistência social para pessoas da classe trabalhadora ao mesmo tempo em que os salários contraem e os empregos desaparecem. Dizer isso não é dizer que essas políticas e táticas dos governos não tiveram influência alguma, mas que elas foram expressão da crise capitalista em vez de sua causa. Apenas uma vez, na introdução, Sarkar reconhece que o capitalismo tende à crise, onde ela descreve esta tendência como “uma necessidade insaciável de novos mercados” (p. 7). Mas esta necessidade de novos mercados, decerto uma característica da crise embutida do capitalismo, não é sua força motriz central. Como Marx e Engels identificaram, sobretudo no terceiro livro de O capital, esta força motriz é a queda tendencial da taxa de lucro, da qual a busca infindável do capital por “novos mercados” é um sintoma, não um sinônimo. Se isso soa pedante, suas consequências são significativas para a compreensão de como funciona o sistema capitalista e qual é o remédio para esta crise.
Por exemplo, Sarkar identifica corretamente a nostalgia pelo período que seguiu a II Guerra Mundial, o apogeu da social-democracia britânica, como uma ilusão perniciosa. Mas, em outro lugar, ela descreve o problema das “desigualdades de classe entre ricos e pobres” como “bastante simples de se resolver” – e então revela uma lista de sugestões sem distinção perceptível do keynesianismo que definiu aquela era (“se você estiver disposto a taxar a riqueza, financiar o bem-estar e os serviços públicos, espremer os lucros e aumentar os salários”, p. 198). Pouco mais que um comentário despretensioso, ele é, não obstante, um momento emblemático, não porque isso é o que Sarkar entende como “comunismo” (supomos que não seja), mas porque revela um equívoco que põe o carro na frente dos bois de como e por que são implementados quaisquer tipos de reformas de concessão e, de fato, como e por que os partidos de esquerda que fazem essas promessas são escolhidos para governar em primeiro lugar.
O fracasso do corbynismo lança uma longa sombra por este motivo e, embora sua crítica do governo trabalhista de Starmer e do governo anterior de Blair seja bastante intransigente, a análise de Sarkar da decadência do movimento de Corbyn se limita basicamente a erros de estratégia e da oposição intransponível do resto do espectro político. E embora Sarkar quase admita que ela e seus colegas da Novara adotaram uma estratégia fundamentalmente oportunista durante estes anos, seu balanço deste período se limita ao fato de essa ter sido ingênua e, em última análise, malsucedida. Mas então seria igualmente ingênuo de nossa parte esperar qualquer responsabilização de Sarkar e da Novara com o papel que tiveram e continuam tendo ao reforçar confusões e ilusões na esquerda capitalista.
Não é nenhuma surpresa, então, que Minority Rule não seja um rompimento com o esquerdismo; isto é, com o reformismo. A despeito de Sarkar se descrever em vários momentos ao longo do livro (e de sua carreira) como “comunista”, ela raramente oferece alguma ideia específica do que isso significa ou do que poderia ser feito quanto aos problemas reais que ela identificou. E apesar de, em Minority Rule, Sarkar tentar colocar o problema como um do sistema capitalista enquanto tal, o conteúdo político de fato de seus argumentos leva inevitavelmente de volta ao beco sem saída da reforma. A importância das lutas para melhorar as condições de nossas vidas não é nula. A defesa e a melhoria de nossas condições de vida é naturalmente importante; é através destas lutas que a classe trabalhadora deve reaprender e redescobrir seu poder coletivo, compreender e expressar seu interesse comum como classe ao se defender dos ataques capitalistas e, eventualmente, sair da defensiva para a ofensiva. Mas é um erro ver estas lutas como fins em si mesmos, quando, como a história longínqua e recente demonstrou, a classe capitalista revogará essas reformas tão facilmente quanto ela as concedeu conforme ditarem seus interesses. Hoje seus interesses indicam cada vez mais claramente que o gasto em armas deve ser priorizado em relação aos salários e ao bem-estar social. É nestas experiências de luta que a classe trabalhadora passa a compreender sua posição na sociedade capitalista e a missão histórica que esta posição oferece; a saber, aquela de coveiros do sistema capitalista em si.
Com o contexto dessas ilusões supracitadas na esquerda do capital, é compreensível que Sarkar reclame que a política “se tornou um espetáculo esportivo” (p. 12). Mas o fato é que toda “democracia” no escopo do sistema capitalista não é nada mais nada menos que “democracia para a minoria, apenas para a classe proprietária, apenas para os ricos”, como colocou acertadamente Lênin em O Estado e a revolução, e envolve a classe trabalhadora delegando nosso poder ao povo, aos órgãos, que alegam nos representar, mas que, na verdade, trabalham pelos interesses dessa classe que nos explora, a classe capitalista. Então, para falarmos algo de positivo da “democracia”, devemos ser explícitos e precisos quanto à democracia proletária, que não tem nada em comum com a pantomina burguesa. Devemos nos referir à classe trabalhadora exercendo o poder ativa e diretamente por meio de seus próprios órgãos independentes de domínio de classe, descobertos historicamente na experiência da luta de classes de massa auto-organizada – assembleias de massa, comitês de greve e, por fim, conselhos operários (ou sovietes).
Como uma breve história do ultraje fabricado na mídia moderna, o núcleo de Minority Rule contém muito pouco do que se discordar. Isto também vale para o argumento dela de que a solução não é se envolver na guerra cultural para tentar derrotar a direita em seu próprio jogo, mas rejeitar seus pontos de discussão e estabelecer nossas próprias pautas com base em nossos interesses em comum e combater a divisão não com mais divisão, mas com solidariedade. Infelizmente, seus méritos são indissociáveis de suas fraquezas, pois toda a questão do livro é a política e a estratégia “da esquerda”. Como comunistas, não somos parte da “esquerda”, mas sim parte da classe trabalhadora; mais especificamente, somos parte daquela minoria da classe que veio a entender a necessidade da derrubada revolucionária da sociedade capitalista e da classe que a rege e da construção de uma nova sociedade sem classes, Estados e dinheiro em seu lugar. Chamamos esta sociedade de comunismo e ela não tem nada em comum com as monstruosidades capitalistas de Estado da URSS e da China nem de qualquer outro Estado-nação que erigiu seu edifício com o sangue e o suor da classe trabalhadora em nome de nossa libertação. Esta sociedade, consumada por meios revolucionários, deve, em última instância, englobar todo o mundo, do contrário está fadada ao fracasso. E então esta revolução deve ser liderada pela classe trabalhadora, organizada segundo nossa própria autoiniciativa e em nosso próprio terreno independente, unida ao longo de todas as linhas arbitrárias de diferença traçadas por nossos exploradores – raça, gênero, sexualidade, religião e qualquer outra que consigam inventar – para nos jogar uns contra os outros.
Tinkotka
Communist Workers’ Organisation
Julho de 2025
* A tradução desta resenha baseou-se na versão original em inglês, publicada em inglês no site leftcom.org, da Tendência Comunista Internacionalista, com o título Adventures in the Culture Wars: A Review Article. Notas da tradução são indicadas como n.t. e comentários ou referências do tradutor a fontes adicionais aparecem entre colchetes. [n. t.]
† Ash Sarkar, Minority Rule: Adventures in the Culture War (Bloomsbury Publishing, 2025). [n. t.]
[1] O nome Novara vem da cidade italiana na região do Piemonte, cenário do filme A Classe Operária Vai ao Paraíso, de 1971, dirigido por Elio Petri.
[2] Embora talvez discordemos quanto ao significado de comunismo, concordamos com a segunda afirmação [para os curiosos, o vídeo está disponível no canal do Good Morning Britain no Youtube e a discussão ocorre na marca dos 10 minutos].
[3] Um argumento semelhante foi feito por Asad Haider em seu livro Armadilha da identidade: raça e classe nos dias de hoje, que examinamos na época [disponível em português: Trabalhadores de todas as identidades, unam-se!] criticando o legado do stalinismo que paira sobre o CRC e o PPN.
[4] O comunicado do CRC está disponível aqui em pdf [disponível em português em traduções diferentes aqui e aqui].
[5] Veja, por exemplo, os comentários sobre a escravidão negra e os migrantes irlandeses em O capital, de Marx, e em As condições da classe trabalhadora na Inglaterra, de Engels. Para uma análise das raízes históricas da opressão das mulheres, ver A origem da família, da propriedade privada e do Estado, de Engels.
[6] Ver O Imperialismo e a Economia Mundial, de Bukharin, e Imperialismo, fase superior do capitalismo, de Lênin.
[7] Karl Marx & Friedrich Engels, A ideologia alemã (Tradução: Rubens Enderle, Nélio Schneider & Luciano Cavini Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007), p. 47. [n. t.]
Traduzido por Thiago Papageorgiou.

Faça um comentário