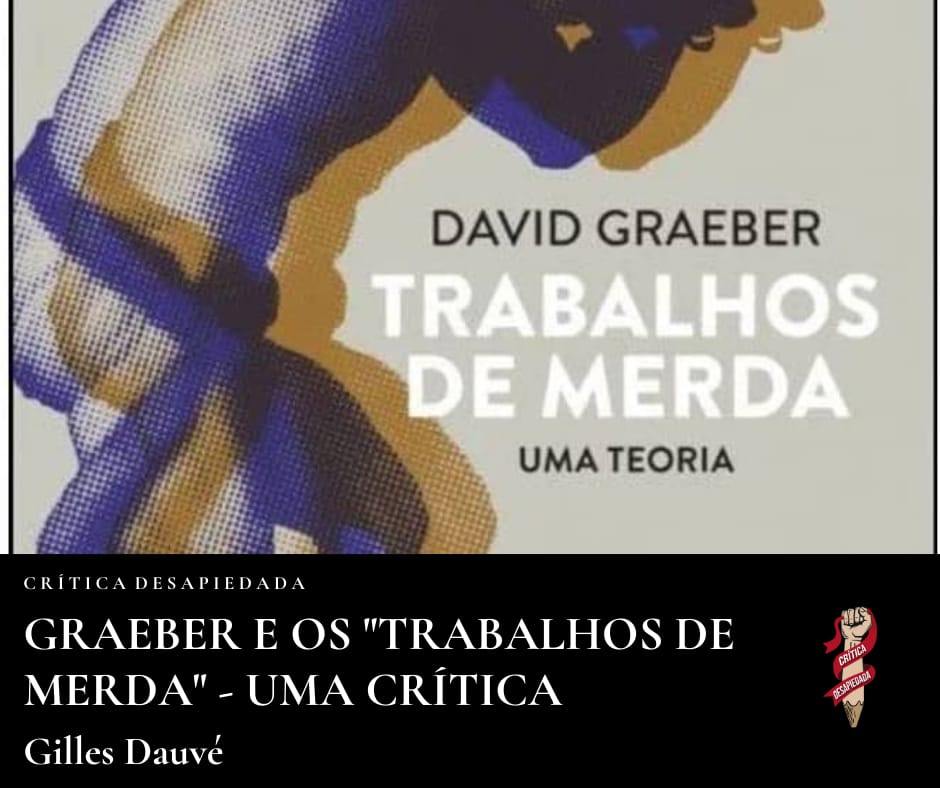
[Nota do Crítica Desapiedada]: A crítica de Gilles Dauvé (disponível abaixo) à obra “Trabalhos de Merda” (Bullshit Jobs) de David Graeber encontra eco na análise de Jason E. Smith. No artigo “Jobs, Bullshit, and the Bureaucratization of the World” (2018), Jason afirma o seguinte: “mas [Adam] Smith, assim como Graeber, confunde trabalho produtivo com seu conteúdo concreto; ambos presumem julgar a questão com base na observação direta da natureza da atividade em questão, em vez de examinar seu lugar no modo de produção social como um sistema (…) A grande virtude da reformulação de Marx das categorias de Smith residia em seu foco não no conteúdo concreto (o tipo de trabalho e seu produto), mas na localização de uma determinada atividade dentro do processo pelo qual o trabalho é colocado em prática para produzir lucro para o capital, uma vez que o lucro — e não a satisfação da demanda social como tal — é o objetivo final da produção no capitalismo.” (grifos nossos).
Em 2023, Gilles voltou a analisar o pensamento de Graeber e lhe dedicou outro artigo: “Dire Implications“, com o subtítulo Uma crítica ao livro The Dawn of Everything, de Graeber e Wengrow*. Outras análises críticas a David Graeber que merecem ser consultadas são: 5,000 years of debt?, do grupo Aufheben, e David Graeber: The First 5,000 Years, do grupo Wildcat, a respeito do livro Dívida: Os primeiros 5 mil anos. É com essa postura que podemos analisar com mais criticidade o pensamento do famoso antropólogo autodenominado anarquista, falecido precocemente em 2020. O artigo de Gilles se soma a essas contribuições e constitui uma crítica marxista a aspectos limitados do pensamento de Graeber, o que não significa descartar a leitura de nosso antropólogo anarquista, nem a validade de alguns elementos em seu pensamento. Boa leitura!
—
* Esta obra foi traduzida no Brasil com o título O despertar de tudo: Uma nova história da humanidade (Companhia das letras).
Que crítica do trabalho?
David Graeber e os “trabalhos de merda”[1]
“Tenho um trabalho de merda…”. A partir da expressão de uma reação espontânea contra uma situação insuportável, o sociólogo tem o poder de criar um conceito que se pretende explicativo.
Em um livro recente (ver “Leituras”), David Graeber teoriza a parte da inutilidade e até do vazio no trabalho: tempo usado para não fazer nada, literalmente, ou em tarefas que servem apenas para preencher artificialmente horas de presença ou em ocupações não relacionadas ao que se supõe ser sua atividade e que a prejudicam. Mas o que se pode compreender ao colocar no mesmo nível o advogado tributário e sua recepcionista? No fim das contas, a análise ofusca mais do que esclarece a realidade do trabalho.
* * *
Um artigo publicado por D. Graeber em 2013 e rapidamente traduzido em uma dúzia de idiomas, lhe valeu uma avalanche de depoimentos espontâneos, resultou na criação de blogs, inspirou uma campanha de exibição selvagem no metrô londrino, um tipo de tomada de consciência quase planetária da crescente importância dos empregos que o autor reuniu sob o nome de bullshit jobs, em francês jobs à la con (“trabalhos de merda”). Os casos são tão numerosos quanto desiguais: assistente em Recursos Humanos que, em seu escritório, surfa em vídeos por horas, vendedor que espera o cliente, trabalhador social que preenche mais formulários do que ajuda pessoas em dificuldade, estatístico que compila e registra dados que ninguém lerá, enfermeira restrita a passar longos momentos colocando dados no computador à custa dos cuidados…
Paradoxalmente, no momento em que se busca intensificar o trabalho, eliminar as pausas, onde a informatização ajuda a contabilizar tudo, onde o ganho de tempo se torna obsessão, pode-se dizer que a própria empresa força alguns assalariados a horas de inatividade, criando assim uma ociosidade em seu próprio seio. Inicialmente, D. Graeber estimava em 20% a proporção de empregos (sobretudo entre os “colarinhos brancos”, voltaremos a isso) que ele escolheu chamar de trabalhos de merda: em vista do fluxo de e-mails que recebeu, o antropólogo e militante se decide por um número significativamente superior.
O que concluir disso?
* * *
“Meu pai e minha mãe me diziam que só existia o trabalho na vida. Eu já não acreditava neles. O trabalho condicionava tudo.”
(Désintégration)
Em um livro inteiramente dedicado ao trabalho, D. Graeber nunca se questiona sobre sua natureza.
Primeiramente, de qual inutilidade ou vacuidade nós falamos? O gestor de investimentos e o lobista são indispensáveis para a sociedade em que vivemos. Os empregos terciários qualificados como inúteis têm suas funções – tanto econômica quanto social, e é impossível separar as duas. A partir de uma comparação de seis profissões (banqueiro, enfermeiro pediátrico, publicitário, conselheiro fiscal, agente de limpeza hospitalar e reciclador), um estudo britânico bem-intencionado sugeria em 2009 substituir a “mais-valia” pelo “valor social”, pagando cada um e cada uma segundo sua contribuição mensurável ao bem-estar geral. Ainda seria necessário fazer uma triagem. Nos Estados Unidos, conduzir um caminhão (um dos empregos mais frequentes nesse país) parece mais “útil” que projetar anúncios, mas o transporte rodoviário de 70% dos produtos de consumo (frequentemente de uma necessidade discutível) agrava a poluição que prejudica a todos. E se a universidade, ao contrário da Bolsa, por exemplo, é considerada um lugar de saber emancipador, a necessidade de um departamento de economia-gestão só faz sentido apenas em uma sociedade capitalista.
A proliferação de atividades qualificadas como inúteis, até mesmo prejudiciais, é inevitável: os fenômenos relatados na obra de D. Graeber só fazem sentido em relação à estrutura fundamental que os envolve, a relação capital-trabalho assalariado, e o imperativo do capital de se valorizar através da contratação produtiva de homens e mulheres obrigados a serem assalariados.
A busca pela produtividade é uma constante do capitalismo, que sistematicamente diminui os custos de produção, particularmente o custo do trabalho. Mas essa busca, feita pela originalidade e dinamismo extraordinário desse modo de produção, cria seu próprio parasitismo multiplicando os empregos não diretamente produtores de valor e, no próprio interior do trabalho produtivo, os momentos “inúteis” de fato muito necessários ao funcionamento do sistema.
Há mais de um século os empregos terciários se desenvolvem excessivamente bem para além de sua contribuição para a rentabilidade. Que o capitalismo seja “gerencial” ou “acionista”, a produtividade máxima não exclui um parasitismo. O taylorismo havia criado sua burocracia de cronometristas, pequenos chefes na linha de produção, supervisores, estatísticos, publicitários, psicólogos de empresa… O capitalismo contemporâneo multiplica os comunicadores, design managers, community managers, controladores de qualidade, criativos, encarregados de missão, animadores… sem esquecer o exército de especialistas, de economistas, de cientistas do trabalho, de sociólogos pagos para estudá-los. O “improdutivo” tende a se automatizar. E quando a universidade e o hospital são cada vez mais administrados como empresas e os serviços públicos cada vez mais privatizados, é normal que eles reproduzam os traços “parasitários” do mundo dos negócios.
Se a enfermeira “perde” minutos no computador que vão lhe faltar para cuidar dos doentes, é porque em um hospital funcionando no modelo de um business, a medida de tudo, o corte de gestos e seu registro computadorizado se impõem em um serviço de cuidados como em uma oficina de montagem. Classificar, numerar, digitalizar: o século XIX tinha a mania das estatísticas, o século XXI não conseguiria viver sem algoritmos. Cada um ou cada uma se torna cronometrista de si mesmo e seu ou sua própria secretária. A cada minuto ou segundo, o gestor sabe quando tal enfermeira administrou tal medicamento a tal doente e isso é, finalmente, mais importante que o próprio tratamento.
D. Graeber não via “razão nenhuma” para que a empregada encarregada da limpeza de sua faculdade seja precarizada e mal paga. Contrariamente, há uma excelente razão para isso: a rentabilidade. Como várias empresas, a universidade prefere subcontratar essas atividades de empresas que empregam em seu lugar um pessoal mais barato e mais facilmente licenciável.
* * *
“eu, que esperava que meu diploma de excelência seria ao menos creditado aqui como uma certa raridade, não encontrei nada e acabei passando para as entrevistas de trabalho para limpezas.”
(Désintégration)
Os “trabalhos de merda” identificados por David Graeber raramente dizem respeito à “produção” pois, para ele, nós teríamos entrado em uma economia de conhecimento onde prevalece o imaterial: os setores do FIRE (Finance-Insurance-Real-Estate, este último representando o imobiliário) o interessam então mais que a indústria de manufatura e o ensino mais que a construção.
“Eles brilhavam com aquele falso desleixo moderno acontecendo quase em todo lugar na cidade grande, que vai de mãos dadas com essas profissões ou ocupações sem obrigação de uniforme.”
(Désintégration)
É de se perguntar se nós vivemos no mesmo mundo que D. Graeber. Na França, operárias e operários ocupam cerca de 20% dos empregos, e os “pequenos empregados”, igualmente 20%. O que há de mais penoso no trabalho de cuidador, do empacotador, da caixa do supermercado, do trabalhador de manutenção, do motorista de entrega e da lavadora de vidros, não são tanto os momentos de calmaria de ociosidade forçada, mas sim a pressão das cadências, a densidade das tarefas e a brevidade das pausas: apostamos que elas e eles receberiam sem desprazer alguns minutos de “tempo morto”.
Curiosamente, a única vez em que o livro se inclina sobre um caso concreto (p. 249-251), trata-se de uma fábrica, e a exposição dos fatos pelo autor desmente sua própria tese. Em 2010, cerca de 180 salariados trabalhavam na fábrica de chá, conhecida pelo nome Fralib, que produz chás Lipton e infusões como Éléphant[2], próximo de Marseille. Após transferências e aquisições, a empresa se torna então parte da multinacional Unilever. Até então, os operários tinham eles mesmos inventado meios simples de elevar sua produtividade. Isso resultou em um aumento de benefícios cujo pessoal recebia sua parte em benefícios e aumento de salários. Mas essas melhorias espontâneas não foram o suficiente para a Unilever que, em busca de uma rentabilidade ainda maior, começa a aumentar a equipe de supervisão de 2 para 7 pessoas, antes de se decidir finalmente, em 2010, a fechar a fábrica para transferir a produção para a Polônia. Ao final de uma luta de 1336 dias, com três “planos sociais” sucessivos, a ocupação dos locais e a mediação do Estado, a Unilever cede em 2014 o material ao pessoal e ajuda no financiamento de uma SCOP (sociedade cooperativa).
D. Graeber insiste no fato de que antes de 2010, os operários, por iniciativa própria, haviam descoberto como aumentar a produtividade. Por que então a Unilever teimou em trazer gestores que não faziam nada além de observar, tomar notas, se reunir e redigir relatórios, atividades e empregos “inúteis”, admira-se o autor, pois os próprios operários já sabiam crescer a rentabilidade? É preciso crer que justamente essas melhorias oriundas da base eram insuficientes para os patrões, que acreditavam ainda mais rentável transferir a fábrica para um país cuja mão de obra fosse mais barata. Mas para compreendê-lo, teria sido necessário admitir que o imperativo de produtividade continua a determinar o curso do capitalismo.
* * *
“Atribuído à reserva para bipar os produtos, ele passava 8 horas por dia amarrando os dispositivos antirroubo no colarinho das camisas, nas costuras de calças e acessórios diversos. O exercício de seu emprego se localizava no porão da loja. Sua tarefa estava sujeita a uma cadência infernal. A pausa de almoço quase não era o suficiente para evitar ficar louco. Depois de absorver uma tigela preparada pela mulher a cada noite, ele retornava para prosseguir na repetição de gestos desprovidos de sentido, calculados milimetricamente a fim de maximizar sua eficácia”.
(Désintégration)
Isso não é o que preocupava D. Graeber, para quem nós não estaríamos “talvez” mais (esse “talvez” deva ser lido como uma expressão de estilo) no capitalismo como analisado por Adam Smith e Marx: “o sistema atual não é o capitalismo”, pois ele não repousaria mais na corrida pelo lucro (p. 266-267). (Lembremos que, para Marx, a sede por lucro não se resume à ganância pessoal: sem dúvida o burguês enriquece, mas através da concorrência dos capitais e da busca de cada empresa pelo menor custo de produção – realidades sempre atuais, como o mostra o exemplo da Fralib). Segundo D. Graeber, não haveria mais classes, nada além de uma mercantilização universal gerenciada cegamente por uma ínfima oligarquia financeira. O trabalho não teria mais que ser produtivo, mas ocupar os trabalhadores, prova que ele já teria agora esgotado sua dinâmica.
A partir de agora “rentista” e “de tipo feudal”, esse novo sistema não teria outra racionalidade além de girar sobre ele mesmo enriquecendo um punhado de privilegiados, algo do que a maioria da população cada vez mais tomaria consciência. Em consequência, uma reação já estaria acontecendo contra esse sistema, e não demorará para mobilizar quase todas as profissões, pois o fenômeno diz respeito tanto ao “empregado de escritório restrito a permanecer 7 horas e meia por dia fingindo escrever em um computador por um salário por hora de 18 dólares”, quanto ao “consultor iniciante obrigado a dar o mesmo seminário sobre a inovação e a criatividade por 50 mil dólares por ano”.
De tanto amalgamar um conjunto heteróclito de empregos, da recepcionista à enfermeira, passando pelo diretor de marketing que passa 5 horas por dia consultando sua caixa de mensagem (parece que é um caso frequente dos executivos franceses), D. Graeber termina por escamotear a própria noção de trabalho assalariado.
Em 2013, em Dette: 5.000 ans d’histoire [Dívida: Os primeiros 5 mil anos], ele descrevia o assalariamento antes de tudo como restrição. Para ele, o capitalismo é mais um sistema de dominação que de exploração, sucedendo tantos outros, opressivos e desiguais, sob os quais sempre existiu e existiria ainda um “comunismo fundamental” feito de grandes e pequenas solidariedades horizontais do cotidiano. Felizmente, argumenta Graeber, contrariamente aos modos anteriores que forçavam os desfavorecidos (do camponês endividado ao operário da indústria) a um trabalho desgastante e exigente, o capitalismo moderno ao mesmo tempo expulsa para fora do trabalho aqueles que ele não pode pagar e esvazia o sentido do trabalho daqueles que ele ainda emprega.
O trabalho, segundo D. Graeber, era sinônimo de restrição para sustentar uma minoria na facilidade ou luxo: ele perdeu essa necessidade, e seu absurdo iluminaria os olhos da maioria, manual ou intelectual (mas da mesma forma mais do lado da programadora que do instalador de cabos). Um sistema assim desprovido de legitimidade histórica, e cada vez mais massivamente rejeitado, não saberia resistir ao impulso de 99% dos seres humanos. A miríade de solidariedades elementares e de comunidades de base que compõem o “comunismo fundamental”, até aí marginais e subterrâneos, poderia assim emergir e logo prevalecer, impondo uma forte redução do tempo de trabalho e uma renda básica universal, criando milhões de sociedades cooperativas como a L’Éléphant, generalizando por toda parte a autoadministração e reduzindo o governo a algumas funções simples.
E isso sem ruptura revolucionária, pois a mudança está em curso: se descobrirá, declarou D. Graeber, que o capitalismo começou a desaparecer nos anos 70.
* * *
Se tal ponto de vista recebe um eco benevolente, é em primeiro lugar porque o declínio das lutas de classes, na Europa e nos Estados Unidos, leva ao declínio das “análises de classe”.
Isso também se deve à transformação do trabalho.
Em torno de 1968, o Ne travaillez jamais [Nunca Trabalhem] situacionista permanecia incompreendido, ou fazia escândalo. Em 1999, o Manifesto contra o trabalho do grupo Krisis foi bem recebido em uma imprensa geralmente hostil às posições esquerdistas, de extrema esquerda e mais ainda anarquistas ou comunistas.
Uma certa crítica do trabalho se tornou aceitável.
Ele domina nossas vidas como nunca antes (a opinião pública considera, por exemplo, evidente que uma instituição tão central como a escola deva preparar o adolescente para um dia entrar na “vida ativa”), enquanto nos mobiliza de outra forma. Passa-se menos tempo no local de trabalho (em média, para os assalariados franceses, hoje 1.400 horas por ano, contra 1.900 em 1950), mas o trabalho transborda do escritório no trem ou em casa. Querendo ou não, troca-se de empresa: acaba o emprego garantido ao longo da vida e o estatuto protegido de funcionário está cada vez menos acessível. Alguns praticam até mesmo o “coworking” em um “café wi-fi” ou um “espaço interconectado” ou sofrem a falsa independência do empreendedor.
A onipresença do trabalho é tal que não se tem a necessidade de cultivar seu próprio culto: longe de desaparecer, a moral do esforço combina bastante com a ideologia da autonomia individual ou do desenvolvimento pessoal. Sem dúvida, não se troca tanto de profissão quanto antes, mas o “plano de carreira” não tem mais o mesmo sentido, e a ex-diretora de recursos humanos que se tornou professora de yoga será no ano que vem consultora de bem-estar na empresa. Se acrescentarmos a isso a precariedade e o desemprego, compreende-se que nossos contemporâneos façam da necessidade uma virtude e desapeguem não do trabalho, mas de suas legitimações ultrapassadas: a ética do trabalho envelheceu e a única justificativa que vale é conseguir o dinheiro necessário para viver.
Hoje, tudo parece estar acompanhado de seu contrário. O frenesi consumista vai junto com sua “Jornada sem compras”, as redes sociais desconstroem as redes sociais, as mídias brincam de serem elas mesmas os alvos e a proliferação publicitária suscita seus Adbusters (Aí ainda, Graeber vê o inútil onde há uma função social e zomba facilmente dos algoritmos publicitários. A questão de não saber se o anúncio de televisão realmente faz vender o artigo que ele vende: a mercadoria triunfante cria sua linguagem, os produtos falam pela imagem que eles projetam a nós, e isso é o suficiente).
Melhor que o Krisis há vinte anos, D. Graeber oferece uma crítica do trabalho publicamente admissível. Ele exprime o máximo de contestação social audível hoje em um capitalismo em crise, mas não o questiona em seus fundamentos e onde um relativo desinteresse pelo trabalho está associado à sua onipotência.
Por muito tempo um privilégio aristocrático, a recusa do trabalho foi em seguida uma atitude muito minoritária, particularmente anarquista, antes de surgir como prática social, o “antitrabalho” dos anos 1960-80, principalmente na Itália. Cinquenta anos depois, tomar a posição “contra o trabalho” é quase admissível desde que a crítica não se aplique igualmente à propriedade privada dos meios de produção, que obriga uns a trabalharem para os outros (se esse últimos os contratarem), e é essa dependência que causa a dívida que D. Graeber torna um motor da história, senão o principal. Mas meios de produção, classes, capital, salariado, burguesia, proletariado… isso tudo é uma “velharia marxista” grande demais para interessar ao sociólogo crítico.
* * *
“No trabalho, a taxa de troca entre o tempo e o dinheiro,
a 7€ por hora, se torna insuficiente”.
(Désintégration)
Os fatos reunidos por David Graeber levantam uma questão que ele é incapaz de colocar.
Há 150 anos ou 200 anos, quando a agricultura ocupava a maioria da população e o artesanato ocupava uma minoria que não era insignificante, a maioria dos seres humanos eram explorados produzindo o que as classes dominantes absorviam. Dois séculos de capitalismo industrial (a informática não é a informação, são as máquinas fabricadas em fábricas) conduziram a uma modificação quase antropológica que nos obriga a questionar não somente o que é produzido, mas o que nós mesmos fazemos quando “produzimos”.
No século XXI como antigamente, as profissões mais valorizadas e mais bem pagas vivem geralmente à custa de homens e mulheres que as alimentam, vestem, abrigam e transportam. Mas pior talvez, as profissões terciárias “abaixo da escala” desenvolvem frequentemente apenas competências ligadas ao funcionamento do sistema capitalista, comercial e burocrático, sem relação com a produção e a manutenção das necessidades e dos prazeres da vida. (Nos Estados Unidos, vendedores e caixas aparecem em primeiro lugar em ocupações profissionais, e a maioria dos “cozinheiros” fabricam burgers em série nos fast foods). Hoje em dia, quantos de nós são capazes de cultivar repolhos, fabricar a menor peça de nossa bicicleta ou participar da construção de uma casa? Se esse não é o caso da totalidade da humanidade, também não está reservado às regiões hipermodernas: mais da metade da população mundial habita zonas urbanas onde a imensa maioria dos cidadãos não têm nem jardim para cultivar nem canto de garagem onde consertar suas bicicletas.
“Nossa vida não nos pertence”.
(Désintégration)
Pela primeira vez, os seres humanos vivem em um mundo onde uma boa parte deles (inclusive nós) não sabem sustentar as necessidades essenciais, as suas e as dos outros. O especialista em informática é evidentemente incapaz de fabricar seus próprios instrumentos, nem mesmo de consertá-los, mas as capacidades técnicas de uma grande quantidade de trabalhadores manuais vale apenas para suas áreas ultra especializadas. No trabalho em migalhas do operário especializado, analisado por George Friedman em 1956 em um livro de mesmo nome, e que não desapareceu (Foxconn, UPS, Amazon e mil outras funcionam de modo neotaylorista), a informática acrescentou a desrealização, o aumento do distanciamento entre a tarefa a ser cumprida (em parte ou em totalidade em tela) e a materialidade do mundo (e do trabalho).
Essa mutilação, essa despossessão universal, infinitamente mais significativa que o fenômeno dos “trabalhos de merda”, só seria desesperadora se sonhássemos com um impossível retorno à era pré-industrial, a uma vida mais humana pois mais próxima da natureza, rural e artesanal… que nunca existiu.
As sociedades de classe chegaram ao salariado e a uma corrida à produtividade do trabalho que, transformando milhões de mulheres e homens supérfluos, esgotam e usam outros milhões. O capitalismo gera um mundo onde hoje uma parte crescente da espécie humana controla apenas habilidades interpessoais estéreis e conhecimentos fúteis. Se o desenvolvedor web ou a encarregada de estudos de marketing cultivam uma horta ou consertam um telhado, é algo que fazem sem qualquer relação com o trabalho e fora dele. Não há nada de definitivo, e a experiência dá mil provas da inventividade dos explorados quando eles questionam aqueles que os dominam. Nossas insuficiências de qualificação serão uma fraqueza e também um trunfo, pois elas crescerão para além das separações entre atividades e saberes.
Até aqui, nenhuma insurreição atacou os fundamentos do capitalismo, mas a história não terminou. A superação de um sistema que nos coloca em dependência de um mundo material cada vez mais exterior a nós, passará por uma produção sem produtividade, sem contabilidade do tempo de trabalho, onde o ato de produção nunca será somente produtivo, onde “os ‘lugares de produção’ serão antes de tudo lugares de vida”. (Activité de crise et communisation [Atividade de crise e comunização]).
“Eu me sentia me tornar perigosa”.
(Désintégration)
Frente a essa perspectiva bem distante hoje, a posição de David Graeber é fácil e simples: a mudança aconteceria logo porque ela já começou… É isso que a torna atraente. É também seu limite. Pois o capitalismo não abolirá a si mesmo.
G. D., abril de 2019
Leituras
David Graeber, Bullshit Jobs, Les liens qui libèrent, 2018.
Não tem por que duvidar da sinceridade ou da veracidade dos múltiplos testemunhos espontaneamente enviados ao autor. Mas imaginemos uma entrevista simétrica interrogando uma variedade tão grande quanto a de D. Graeber, indo do empregado que recebe 18$ por hora ao consultor que ganha 50.000$ por ano, perguntando quais satisfações diversas essas pessoas encontram em seus locais de trabalho: é possível apostar que as respostas não seriam parecidas com as mesmas reproduzidas em seu livro. Em todo caso, a insatisfação e o desinteresse nunca serão suficientes para animar uma profunda mudança social.
Do mesmo autor e na mesma editora: Dette: 5.000 ans d’histoire, 2013.
Eilis Lawlor, Helen Kersley & Susan Steed, A bit rich. Calculating the real value to society of different professions, New Economics Foundation, 2009.
Pierre Rimbert, « De la valeur ignorée des métiers », Le Monde Diplomatique, março de 2010.
Julien Brygo & Olivier Cyran, Boulots de merde ! Du cireur au trader, enquête sur l’utilité et la nuisance sociales des métiers, La Découverte, 2018.
G. D., « Travail : L’Enjeu des 7 erreurs », 2017.
Oficialmente, continuamos a empregar a palavra SCOP (utilizada por D. Graeber em seu livro), cujas iniciais significam “Société coopérative ouvrière de production” (Sociedade cooperativa operária de produção), mas alterando o sentido para “Société coopérative et participative” (“Sociedade cooperativa e participativa”: operário é uma grande palavra.
E sobre o trabalho nos Estados Unidos: “Working Class Zero? Sur la prétendue disparition des ouvriers étasuniens , 2016.
Bruno Astarian, “Quelques précisions sur l’anti-travail“, 2016.
Bruno Astarian, “Activité de crise et communisation “, 2010.
Désintégration é um romance de Emmanuelle Richard, Éditions de l’Olivier, 2018.
[1] O livro de David Graeber foi traduzido para o português e lançado em 2022 pela Edições 70 com o título: Trabalhos de Merda: uma Teoria. [N.T.]
[2] “Marca centenária (criada em 1892), o chá Elephante foi comprado pela Unilever em 1972, sendo produzido em Marselha e em Le Havre, no norte da França. Em 1997, a multinacional fechou a unidade de Le Havre e, após a pressão dos trabalhadores, transferiu parte dos funcionários (54 famílias) para a planta situada no extremo sul do país, como a família de Olivier Leberquier, delegado da CGT (central sindical francesa). A decisão de fechar também a fábrica do sul em 2010 desencadeou duas ocupações, intercaladas por disputas judiciais e a presença de seguranças privados contratados pela Unilever, instrumento previsto na legislação da França. A empresa pretende centralizar sua linha de chás na marca Lipton. A primeira ocupação aconteceu em agosto de 2011 e durou quatro meses. Em maio do ano seguinte fizeram mais uma ocupação até setembro. Finalmente, a fábrica foi vendida pela Unilever para o governo local de Marselha, que a repassou aos trabalhadores.
Hoje o chá tem uma pequena produção para distribuição militante e como forma de sensibilizar apoio para a luta dos trabalhadores da Fralib. Essa produção está sendo feita sem os aditivos químicos que eram utilizados pela Unilever para aromatizar anteriormente. O produto tem sido comercializado de maneira informal, com apoio de associações, partidos políticos e sindicatos.” Para mais informações, consulte: “Experiências latino-americanas inspiram europeus”. [N.T.]
Traduzido por Lucca Lobato. Revisado por Thiago Papageorgiou.

Faça um comentário