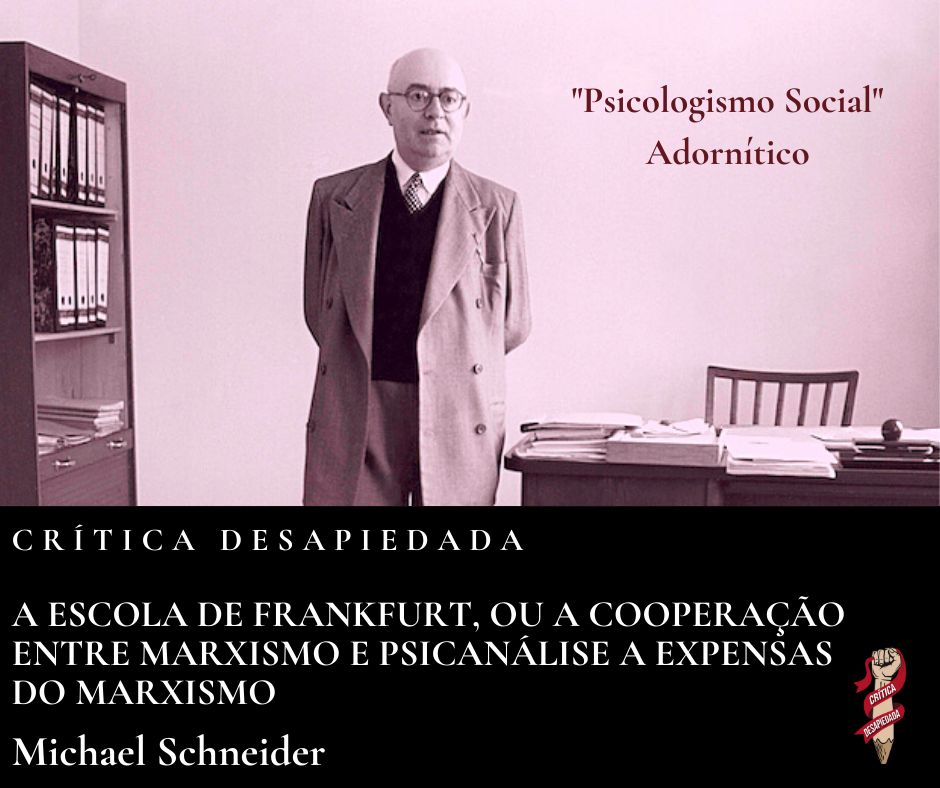
“Psicologismo Social” Adornítico
A contribuição da Escola de Frankfurt para a controvérsia marxista-psicanalítica consiste em ter desmascarado as tentativas teóricas e práticas de mediação dos freudiano-marxistas alemães, na forma de reduções, estilizações, ou revisões das “teorias críticas” – o que, além do mais, tendeu a resultar numa perigosa psicologização dos problemas sociais e políticos. A Escola de Frankfurt opôs-se decididamente a qualquer forma de “psicologismo” que buscasse explicar os conflitos de interesse social em termos dos conflitos instintivos dos indivíduos. Adorno escreveu: “O ‘culto’ da psicologia, que se procura incutir às pessoas e que, entretanto, transformou Freud num árido artigo de consumo na América, é o complemento da desumanização, a ilusão do impotente no sentido de que seu destino depende de sua constituição individual (…). O psicologismo, seja em que forma for, a avaliação despretensiosa do indivíduo, é ideologia. Transfigura a forma individualista de socialização numa determinação extrassocial, natural, do indivíduo (…). Tão logo os processos, que na verdade afastaram-se de atos individuais espontâneos e se acham ligados a sujeitos abstratos, são explicados como emergentes da alma, humaniza-se, num consolo, o reificado[1].”
A questão, porém, é saber se a própria Escola de Frankfurt e seus seguidores estão corretamente armados contra o “psicologismo” que julgam combater implacavelmente. Embora os freudiano-marxistas alemães procurassem evitar uma interpretação psicanalítica errônea das instituições sociais e dos fenômenos políticos, graças a uma fusão de materialismo histórico e psicanálise, a Escola de Frankfurt acreditava poder eliminar esse perigo apenas separando categoricamente as duas “teorias críticas”. Como Adorno antes deles (em “Compreendendo a Sociologia e a Psicologia”), também hoje os seus seguidores baseiam a inconciliabilidade categórica das duas teorias numa divisão irreversível do trabalho entre sociologia e psicologia, que reflete, ao que se supõe, o verdadeiro “antagonismo entre sociedade e o indivíduo”. Dahmer escreve: “Todas as tentativas para coordenar a teoria crítica do sujeito e a da sua economia política, de deixar que um seja absorvido pelo outro, estão condenadas ao fracasso, já que o fundamentum in re da divisão do trabalho vigente, a contradição de uma sociedade na qual ‘o mais alto desenvolvimento do indivíduo é sacrificado’ (Marx), não pode ser eliminado do mundo por meras instituições científicas. Não é possível recuar da divisão do trabalho”[2].
Os novos “frankfurtistas” consideram, de certo modo, como tarefa de sua vida manter ambas as “teorias críticas” livres de redução recíproca, retoques e difamação. Possuindo ambas as teorias críticas, voltam-se para orientar, por assim dizer, um eterno movimento oscilando entre as duas. Consideram a condição de cooperação entre o materialismo histórico e a psicanálise precisamente em mantê-los despojados um do outro. Dahmer vai além, dizendo: “A psicologia e a sociologia, isto é, seus pares críticos, a psicanálise e o materialismo histórico, investigam em trabalho dividido a estrutura interna do produtor de bens isolado e as relações determinadas pela produção (…), a história da vida dos seres humanos individuais e a história da sociedade burguesa”[3].
O conceito de divisão cooperativa do trabalho da Escola de Frankfurt, que faz sentido à primeira vista, está bem preparado contra o grosseiro psicologismo psicanalítico de Laforgues, Ferenczis e Roheims e também contra o naturalismo psicanalítico de um Wilhelm Reich. Mas isso mesmo se torna logo um novo psicologismo “moderno”, que só concede a qualquer crítica da economia política uma autoridade puramente verbal, de modo a reivindicar de fato a ilimitada autoridade da psicanálise em todas as questões psicológicas. Esta “delimitação da autoridade” não priva a psicanálise de sua dimensão ideológico-burguesa e sim a economia política marxista de sua dimensão psicológica. Conforme observa Dahmer: “A psicanálise e o materialismo histórico precisam coexistir (…). Fatores sociais como valor fixo, a guerra imperialista, a queda tendencial da taxa de lucro, ou a crise da superprodução não podem ser atribuídas às necessidades do indivíduo (sempre socialmente interpretadas, sejam legitimadas ou transformadas em tabu). Nenhum volume de destino instintivo ou repressão torna o capitalismo, ou outras formas de produção, compreensíveis, seja como for. Vice-versa, uma crítica da economia política nada nos ensina sobre o modo como as máscaras de caráter, que os ‘portadores de certas relações de classe e interesses’ precisam usar, estão soldadas aos seus instintos, nada senão sonho e neuroses”[4].
De fato, a psicanálise não nos pode dizer coisa alguma acerca das questões sociais, digamos, a avaliação, ou das crises do excesso de produção; mas uma crítica da economia política pode muito bem fazer declarações gerais acerca de como a evolução econômica afeta a evolução social dos instintos. Assim Marx – conforme demonstramos com maiores minúcias na Parte III – declarou em princípio que o processo de acúmulo do capital gerou uma certa estrutura instintiva e de caráter, um certo “caráter social” na burguesia emergente, que é particularmente marcado pelo zelo, a avareza, o espírito de poupança e a abstinência. Por falta de uma psicologia individual genética não pode, é claro, representar a ancoragem dessas “virtudes de classe” psicossexuais, que deveriam ser consideradas psicanaliticamente como “formações reativas”; e neste sentido o estudo psicanalítico dos sintomas e do caráter entra novamente em seus limitados direitos. Os “críticos da crítica” da Escola de Frankfurt, porém, omitiram sempre as “contribuições revolucionárias marxistas à psicologia, à sociologia da psique” (Baran), de modo a transferir o monopólio da psicologia à psicanálise, à “teoria crítica do sujeito”.
Assim, esses críticos buscam incansavelmente provar a igualdade cooperativa em valor e categoria de ambas as “teorias críticas”, através de contraposições abstratas e formais. Horn escreve: “A preocupação de Marx é o mútuo cultivo da natureza externa e a criação da espécie conforme até agora relacionada. A preocupação de Freud é essencialmente o amoldar da natureza interior do ‘indivíduo’, os problemas específicos que daí evoluíram e não preocuparam exclusivamente a Marx, pois tal psicologia não existia no seu tempo”[5]. Esta contraposição formal ignora o fato de que uma boa parcela da ideologia e antropologia burguesas penetraram a representação psicológica do “metabolismo”, com sua “natureza interior”. Nem mesmo a decisiva e ardilosa “tertium comparationis” dos “críticos da crítica”, ou seja, o conceito de reificação, pode ocultar este estado de coisa. Segundo Horn: “A crítica dirige-se, em ambos os casos, contra as condições que se petrificaram em objetos: com Marx contra o fetiche mercantilista e com a psicanálise contra o comportamento mediado pelo clichê (…). Em ambos os casos, a crítica teórica e prática começa com o reificado e critica a mercadoria, assim como o sintoma, como algo que só aparentemente é uma imediata manifestação natural”[6]. Ambas as “teorias críticas” são críticas certamente, aqui com respeito aos bens de consumo, ali com respeito aos sintomas das condições sociais reificadas. A diferença qualitativa entre as categorias da economia política de Marx e as da psicanálise, porém, consiste de fato em que as últimas não estão, elas próprias, livres da reificação que estão criticando. Conforme demonstramos, quase todas as categorias psicanalíticas, tais como o conceito do ego, a agressão, ou o complexo de Édipo, perderam totalmente aquela determinação histórica e sócio-específica que distingue os conceitos de economia política. É porque a psicanálise biologiza e ontologiza determinantes sociais opacos da estrutura dos instintos que não pode simplesmente receber status igual ao da “teoria crítica da sociedade” como “teoria crítica do sujeito”.
Insistindo na divisão do trabalho (isto é, na cooperação em igual status entre o materialismo histórico e a psicanálise), os “críticos da crítica” conservam, junto com o “ouro puro” do pensamento freudiano, também a sua carga ideológica e petrificações biológicas. Um exemplo disso é a crítica de Dahmer relativa ao conceito reichiano de genitalidade. Dahmer observa convincentemente que esse conceito naturaliza e reifica o de Freud[7], mas esta mesma crítica equivale a uma justificativa do conceito freudiano de genitalidade. Que o conceito de Freud, como autotransfiguração psicológica da burguesia liberal, não se ache também totalmente livre de certas reificações, tais como a prioridade do trabalho mental sobre o trabalho manual, é omitido pela crítica de Dahmer, que ataca o aluno, mas poupa o mestre. O mesmo é exato em relação ao conceito de neurose de Reich, isto é, de Freud. Dahmer tem razão ao criticar o conceito reichiano de neurose por perder a dialética, que é o que o distingue do de Freud. Reich concebeu a neurose apenas como uma “perturbação”, como “inibição”, como “doença”, isto é, como um declínio degenerativo da estrutura de “caráter genital”, enquanto Freud ainda nela via um elemento de rebeldia contra o princípio de realidade, um elemento progressivo e subversivo. Contudo, quando Dahmer escreve “a sua (de Freud) teoria da neurose e da história cultural evoluiu a partir da perspectiva do indivíduo a quem supõe-se que a terapia ajude a amadurecer”[8], ele omite não só o elemento fatalista e decadente do conceito freudiano de cultura (que Reich vira com muita clareza), como também a contradição entre a sua teoria da neurose subversiva e sua terapia reformista e oportunista para a neurose. Em contraste e apesar do seu conceito reificado de genitalidade, Reich procurou pelo menos tornar o elemento subversivo da teoria freudiana da neurose produtiva para a prática terapêutica, aconselhando aos seus pacientes que se haviam tornado mais esclarecidos durante a terapia a engajarem-se no partido comunista.
Em análise final, a cooperação nas linhas da divisão do trabalho entre o materialismo histórico como “teoria crítica da sociedade” e a psicanálise como “teoria crítica do sujeito”, que a Escola de Frankfurt institucionalizou, equivale a uma inadmissível redução do materialismo histórico. Dahmer descreveu assim a função da psicanálise como algo distinto do materialismo histórico: “O materialismo histórico fala a verdade acerca das condições nas quais o ser humano individual, suas necessidades, sofrimentos e consciência, ainda não importam. A psicanálise fala a verdade acerca do sujeito humano que é transformado num objeto e resiste a esse processo”[9]. Mas esta afirmativa exige uma decisiva qualificação: a psicanálise fala a verdade acerca do sujeito somente na medida em que isto se torna objeto de um processo de socialização familial; contudo, é cega aos determinantes extrafamiliais, assim como à socialização primária e mesmo à socialização secundária, isto é, à força socializante do trabalho assalariado. Com base nessas categorias familiasticamente obtusas, a psicanálise só pode compreender a patologia da evolução da primeira infância; a verdadeira patologia, porém, que se deriva imediatamente, ou é mediada através da esfera de produção e realização capitalista (e que foi assunto da terceira parte dos nossos estudos), ou foge ao seu âmbito teórico. Mas esta mesma patologia constitui o seu objetivo, que os defensores adorníticos da obra de Freud recusam-se a admitir. Pois ao fazê-lo perderiam o seu mais importante argumento em prol do conceito cooperativo de ambas as “teorias críticas”; a divisão do trabalho num “consciente ideológico”, cujo esclarecimento é o assunto da economia política marxista, e num “consciente patológico”, cujo esclarecimento, ao que se supõe, é assunto da psicanálise. Quando Horn escreve: “Concebemos as deformações do consciente sejam transmitidas com sedimentações socialmente mediadas de dominação”[10], pressupõe tacitamente que as deformações do consciente sejam transmitidas com exclusividade através do processo de socialização da família. Mas precisamente uma crítica da economia política é o que pode demonstrar que as deformações maciças socialmente relevantes do consciente e do instinto derivam-se, elas próprias, primordialmente, do processo capitalista de trabalho e utilização e são transmitidas apenas secundariamente através de perturbações na socialização familial.
Já que os “críticos da crítica” da Escola de Frankfurt confiam com exclusividade o monopólio da psicologia à psicanálise, escorregam para um “psicologismo social”, política e economicamente amoldado – e isso apesar de todos os protestos de amizade feitos ao materialismo histórico. Isto pode ser demonstrado, por exemplo, na “psicologia social do fascismo germânico”. Assim, descrevem o antissemitismo exclusivamente em termos psicanalíticos: como “perturbações do consciente socialmente mediadas” (Horn) da classe média, para quem os judeus tornaram-se telas de projeção dos desejos sexuais e agressões reprimidas. Horn escreve: “Os judeus tornaram-se para os antissemitas representantes daquilo que era proibido a eles próprios. Como os judeus eram perseguidos – ostensivamente como manipuladores da miséria social -, as verdadeiras causas das crises sociais permaneceram ocultas. O comportamento agressivo organizado pelo estado pode ser interpretado no âmbito deste modelo como um erro de socialização socializada, cujas raízes são edipianas, ou seja, como conflito de interesses primordialmente emocional”[11]. Horn absolutiza aqui os componentes sócio-psicológicos secundários (importantes, é claro) do antissemitismo a ponto de suprimir as causas primárias econômicas e políticas. Não foi por serem os judeus representados como “manipuladores da miséria social” que as verdadeiras causas das crises sociais permaneceriam ocultas, e sim vice-versa. Noutras palavras o processo capitalista de produção e utilização produz, ele próprio, uma consciência “mistificada” e “irracional”, para a qual a inflação, o desemprego em massa, a crise econômica e a guerra imperialista parecem “um destino trabalhando fora de si mesmo” (Marx). Assim, foram os judeus apresentados como manipuladores da miséria social. “O comportamento agressivo organizado pelo estado” não pode ser interpretado unicamente, portanto, no âmbito deste modelo de “um erro de socialização socializado”, pois o antissemitismo estatal tinha menos a ver com o complexo de Édipo do que com um “complexo” anticapitalista e antibolchevique, ou seja, exercia antes de mais nada uma função política e econômica: desviar o ressentimento anticapitalista, assim como o antibolchevista, da classe média e de parte do operariado, para os judeus do “dinheiro”, ou seja, “o mundo bolchevista do judaísmo”. A ocasião para a personalização e defesa “projetiva” das contradições sociais é sobretudo uma expressão de “inversão do consciente”, ela própria imanente da produção capitalista de bens, uma expressão da reificação das pessoas e personificação dos objetos; e apenas secundariamente uma consequência de “um erro de socialização socializado”. Todo o estudo do preconceito feito pela Escola de Frankfurt sofre da absolutização dos componentes do preconceito, que forma mediados por perturbações na socialização, na mesma medida em que suprime os componentes do preconceito que se derivam do processo capitalista de produção e utilização, o caráter fetichista das mercadorias, a mera aparência de equivalência, na troca, etc.
O verdadeiro problema da Escola de Frankfurt é estar ela tão abalada e decepcionada pela derrota do movimento operário alemão que quase só pode compreender a “dominação” recorrendo a conceitos da patologia. Só compreende o fascismo como uma “psicopatologia socialmente organizada”, como “irracionalidade socializada”, embora do ponto de vista capitalista o fascismo fosse excepcionalmente racional. Numa luta sisífica com o economicismo stalinista, que era cego à dimensão irracional do movimento de massa fascista, adornítico e neo-adornítico, o “sócio-psicologismo”, de seu lado, tornou-se cego à racionalidade profana do “movimento irracional de classe média” financiado pelos grandes capitais, que ultimamente infectaram até parcelas do movimento operário. A Escola de Frankfurt acabou por ver “psicopatologia” e “irracionalidade” até onde se tratava de uma simples questão de interesses imperialistas. Em suma, os “críticos da crítica” complicaram tudo mais ainda do que já estava; até hoje isto constitui o segredo da multiplicação infinita.
Em qualquer debate sobre marxismo e psicanálise, porém, não se pode esquecer que a Escola de Frankfurt sempre se manteve afastada de uma autêntica crítica e controvérsia materialista com a psicanálise. O materialismo histórico omite o fato de que a psicanálise, em princípio, também proporcionou uma “teoria crítica do sujeito”. Wieser e Beyer comentaram: “Aqueles que consideram esta análise do “fator subjetivo” omissa em relação ao materialismo histórico e a consignam exclusivamente ao domínio da psicologia, correm o perigo de envolver-se numa ‘segunda psicologia’ que existe independentemente daquela já iniciada no socialismo”[12]. Teóricos adorníticos, que apoiam uma ruptura entre a sociedade e o indivíduo, assim como entre os seus respectivos equivalentes críticos, o marxismo e a psicanálise, embora se oponham aos freudiano-marxistas que desejam seguir um curso intermediário, reúnem-se a eles privando a crítica da economia política de sua plena dimensão psicológica. As “puras” categorias político-econômicas, é claro, já não “cooperam” com as “puras” categorias da psicanálise. Esta redução tem como consequência, porém, um conceito reduzido de psicologia: esta só é ligada aos processos de socialização da família, o que em último caso significa à esfera do consumo. A Escola de Frankfurt e seus seguidores reproduzem, portanto, a obtusidade familialística da psicologia de Freud.
“Psicologismo de Interação” Neo-Adornítico
A mais recente tentativa de proporcionar apoio ao conceito de cooperação em bases iguais entre marxismo e psicanálise da Escola de Frankfurt é a versão de Lorenzer acerca da psicanálise como “teoria da interação simbólica”. Lorenzer escreve: “O que se compreende, antes de mais nada, na psicanálise, não são as formas de comportamento de alguém e sim, simultânea e primordialmente, as estruturas em interação compreendidas no medium do sujeito que se apresenta. A peça, não o ator, fica no centro (…). O ator – o indivíduo – é o ponto de partida da análise crítica. O objetivo da análise é compreender a refração subjetiva das estruturas objetivas da peça (…). A teoria psicanalítica é uma teoria de distorção subjetiva das estruturas objetivas da interação ‘no sujeito’[13]. Em última instância, a versão da psicanálise segundo Lorenzer, como uma “teoria de interação”, conduz ao mesmo beco sem saída da visão estruturalista da psicanálise. O que são “estruturas invariáveis” para Lacan, são “estruturas de interação objetiva” para Lorenzer, as “estruturas objetivas da peça”. Lorenzer repete a aporia da psicanálise estrutural, só que em forma diferente. A psicanálise estrutural não é capaz de determinar o que pertence à “invariável” base lógica de determinada estrutura dos instintos, digamos, o complexo de Édipo, nem Lorenzer é capaz de determinar o que constitui “estruturas de interação objetiva” e de que modo a sua “refração subjetiva”, isto é, suas deformações sociais e específicas de classe, deveriam ser consideradas. Mas é óbvio que o “ator”, dependendo do meio específico de classe de onde se origina, está sempre à mercê das diferentes “regras do jogo” da “interação”. Lorenzer apenas substitui o idealismo estruturalista por um novo idealismo de “interação”, como se existissem “estruturas de interação” independentes de e acima e além de todas as formas de comportamento social e específicas de classe, que deveriam de então em diante ser consideradas, por assim dizer, como o “espírito objetivo” das interações.
O que, aliás, significa “interação”? Lorenzer pediu o termo de empréstimo a Habermas. Embora critique a “estrita divisão em princípio de interação e produção”, introduzida por Habermas, e sublinhe que “nem o trabalho, nem a interação podem ser compreendidos em separado da produção”[14], também ele parece partilhar da crítica marxista de Habermas, no sentido de que o domínio da “interação”, da “ação comunicativa” (Habermas), cai fora do conceito marxista de “trabalho”, de “atividade instrumental” (Habermas). Caso contrário, o esforço teórico para mediar entre os dois conceitos – que, alegava-se, haviam se separado – por meio do “conceito simbólico”, seria supérfluo. Este é um caso, porém, não de “compreensão reduzida” do trabalho no sentido marxista – e que prendeu a sua dimensão de “ação comunicativa”, como supõe Habermas – mas de reduzida compreensão de Marx por Habermas e Lorenzer. Segundo Marx, “o processo humano de autoprodução” é mediado pelo trabalho no sentido de “ação instrumental” – o que não significa, porém, que a “autoprodução do homem” seja totalmente idêntica à “ação instrumental”. O trabalho é a base deste processo, não o seu conteúdo exclusivo. A “interação’, no sentido de “ação comunicativa” e “relações inter-humanas”, entra na “autoprodução do homem” como uma dimensão mediada e estruturada pelo trabalho. Marx, contudo, era suficientemente marxista para não permitir que um conceito vago como o de “interação”, baseado no qual escolas inteiras de dinâmica de grupo foram, entretanto, erguidas, se tornasse uma categoria analítica dentro da crítica da economia política. Qualquer tentativa para garantir à psicanálise o seu domínio autônomo de autoridade apontando a chamada compreensão limitada de trabalho e produção por parte de Marx mal consegue ocultar as suas premissas. Se os novos “teóricos da interação” psicanalítica não conseguem comprovar a sua autenticidade senão graças a uma sofisticada alusão às chamadas omissões nas categorias marxistas, então a sua autenticidade parece ser de fato meio dúbia. O que é responsável pelo fato das categorias psicanalíticas não terem entrado nas categorias histórico-materialistas não é uma redução das categorias marxistas em si mesmas e sim a redução dessas categorias pelos marxistas vulgares e também o resquício ideológico enraizado nas categorias da psicanálise.
Mas vamos prosseguir até o âmago da “teoria simbólica” de Lorenzer, citada com frequência. Em primeiro lugar deveríamos observar que a tentativa de Lorenzer para mediar os supostos domínios separados de “trabalho” e de “interação” por meio de um processo de formação de símbolos verbais não é de modo algum tão original e novo como parece. E. Wulf[15] observou que esta tentativa já pode ser encontrada em Lacan, que – de um ponto de vista estruturalista – vê os fatores biológicos e sociais do processo de individuação envolvidos na “matriz da linguagem” universal, onde o “discurso vazio” contém a estrutura “invariável”, biologicamente pré-formatada, e o “discurso pleno” contém os seus determinantes sociais. Segundo Lorenzer, a capacidade verbal para a simbolização representa um “papel decisivo na mediação dos processos naturais e sociais”[16]. Simultaneamente, o símbolo proporciona outro elo que é importante do ponto de vista psicanalítico: “A conexão entre consciente e comportamento. Esta conexão, o símbolo a realiza como linguagem. O homem adquire o domínio da linguagem através da formação de símbolos. Os símbolos como elementos da ‘linguagem’ interligam pensamento e ação, regulando simultaneamente a interação, assim como a comunicação!”[17]. E finalmente: “Os dois domínios que caracterizam principalmente a psicanálise também se extrapolam: os domínios do inconsciente e do consciente. Esses processos de transformação que conduzem de um domínio ao outro correm, por assim dizer, através dos símbolos”[18]. Para encontrar uma expressão adequada na teoria verbalista a esta transformação de inconsciente e consciente, Lorenzer criou o conceito de “protossímbolo”. Os “protossímbolos” são idênticos às concepções, desejos e pensamentos que não são ainda, ou já não são, capazes de se tornar conscientes. Lorenzer escreve: “Os protossímbolos formam um círculo ao redor do símbolo aceito (símbolo, isto é, capaz de expressão verbal). Na medida em que os protossímbolos já tenham galgado os primeiros degraus da realização encontram-se constantemente preparados, em certas condições (como, por exemplo, nos sonhos e em certas situações críticas) para transpor o limiar do consciente”[19].
A teoria do símbolo de Lorenzer é, em ampla medida, apenas uma desajeitada paráfrase do modelo dinâmico freudiano do aparelho psíquico. Seus “protossímbolos” são idênticos às concepções inconscientes, ou seja – pré-conscientes, que ou não podem, ou não são admitidas absolutamente na formação verbal de símbolos, ou estão excomungadas do processo verbal de formação simbólica. A formação de símbolos e os processos de assimbolização que Lorenzer descreve parafraseiam simplesmente os processos de transformação que Freud descreveu, de um processo inconsciente para um consciente, e vice-versa. Lorenzer anuncia novas construções conceituais como descobertas teóricas que, a um exame mais minucioso, apontam para questões há muito conhecidas. O mesmo ocorre com o agora renomado conceito de “destruição da linguagem”, celebrado pelos neo-adornistas. Que toda neurose destrói a conexão entre a linguagem e a ação, a comunicação e a interação, já nos é bastante familiar desde Freud. Mas os neologismos terminológicos da “destruição da linguagem”, o “jogo linguístico”, isto é, o conceito de assimbolização, nada acrescentam às percepções de Freud. O objetivo da terapia analítica, para Freud a “conscientização do inconsciente”, Lorenzer chama de “recriação do jogo da linguagem fissurada”[20].
O conceito simbólico torna-se para Lorenzer o passe-partout que realiza verdadeiras maravilhas sempre que o marxismo parece não ter a chave da compreensão da psicanálise. A principal função deste conceito é permitir uma conduta de duas faces, ou melhor, “uma espécie de parceria social” na relação do materialismo histórico com a psicanálise, pois “trabalho” e “interação” parecem valores cooperativos, complementares, diante da “altitude” do conceito simbólico. Lorenzer declara: “Os símbolos como elementos da linguagem e a linguagem como discurso e ação apontam para a comunicação e o trabalho de igual maneira. O símbolo aqui é não só o precursor platônico do trabalho, como também aquele meio de produção autogerado (!) do sujeito das espécies (…). O símbolo é síntese análoga à produção material, porque sempre enraizado na natureza interior, da qual o símbolo como produto (!) foi arrancado, bem como em conflito com a natureza exterior da qual brota o produto concreto tangível”[21].
O conceito de símbolo de Lorenzer – isto é, todo o seu segredo – torna-se parte simplesmente de um elo artificial com os conceitos marxistas correspondentes, de modo a participar de sua solidariedade, processo no qual o ouro *puro” daqueles conceitos marxistas se perde, naturalmente. Os símbolos como “meios autogerados de produção do objeto das espécies” é um pobre híbrido conceitual que nada explica. Que o símbolo tenha que ser “arrancado à natureza interior” de maneira alguma leva o processo de simbolização a uma conexão material plausível com o processo de produção material. Não faz sentido que justamente o conceito de símbolo, que não representa um papel central nem na psicanálise, nem na crítica da economia política, funcione entre as duas como um alfinete universal – da seguinte maneira, digamos: “A intervenção na simbolização está sempre ligada a três ‘realidades’, ou seja, atos físicos biofisiológicos, interação ‘real’ e produção ‘material’: o símbolo como ‘meio de produção’ faz parte dos três níveis de atividade humana. Tal determinação da psicanálise permite uma análise das condições objetivas da organização de dominação e da organização do trabalho”[22]. A trindade conceitual reunida pelo conceito de símbolo – “atos físicos biofisiológicos”, “interação real “ e “produção material” – desaparece então; e isto constitui a sua missão ideológica secreta, mesmo em seus primórdios, a partir de uma nítida disposição marxista das prioridades: a prioridade de “produção material” sobre a “verdadeira interação”, que é decididamente amoldada pela organização do trabalho e não pode de modo algum ser sem ela especificada.
Lorenzer possui uma noção bastante clara do dilema da psicanálise ao escrever que, embora “a repressão estabelecida pela dominação nas relações infantis com os objetos possa ser concretamente discernida, a conexão entre a organização da dominação e da força e a organização do trabalho permanece fora da crítica psicanalítica (…). Sua percepção crítica parece chegar apenas a uma contradição derivada, mas não é capaz de raciocinar até uma concreta conexão com relações na produção (…)”[23]. Contudo, sua versão da psicanálise como uma “teoria de interação simbólica” também não resolve o dilema. E isso em especial porque – como observa Lorenzer, com razão – “a relativa invariabilidade do fundamento biológico é confrontada pela situação histórica como uma construção de fatores mutáveis”[24]. Uma análise da mutabilidade histórica deveria receber primazia absoluta. Precisamente porque uma “teoria da interação psicanalítica” corre sempre o risco de considerar os determinantes sociais e culturais específicos da “interação” como “objetivos” e “invariáveis”, uma crítica da economia política, isto é, das formas de comportamento sociais e culturais específicas (dentro e fora do processo de socialização familial) precisam ter prioridade absoluta. Lorenzer diz que “a psicanálise (…) tem que evitar a observação isolada de um campo familial, assim como não deve impedir os debates acerca da “dominação” de se estenderem à área seguinte de discussão (…) a deformação dos sujeitos sob o jugo das relações dentro da produção (…)”[25]. Contudo, noutro local, uma “crítica da interação deformada” torna-se novamente tarefa exclusiva da psicanálise, embora, conforme observamos, as deformações do consciente e do instinto, resultantes do processo de produção, sejam completamente inacessíveis à psicanálise.
Lorenzer supôs a autenticidade da Escola de Frankfurt não só no seguinte sentido: “O estudo da dialética do indivíduo e da sociedade, que a Escola de Frankfurt já colocou no centro da questão, terá que ser, sem dúvida, mais profundamente desenvolvido (…)”[26]. Mas assume fielmente este legado no sentido da redução o “legado” marxista pela Escola de Frankfurt, ou seja, a crítica da economia política. Os conceitos de bem de consumo, dinheiro, capital, classe, etc. são mais ou menos englobados pela categoria centralmente mediadora de Lorenzer, a do conceito de símbolo. Mesmo os protestos de amizade verbais, como “a conexão entre a organização do trabalho e o indivíduo”[27], de pouco valem. A categoria “trabalho” tem para Lorenzer uma existência tão abstrata e formal como o conceito de “dominação” entre os seus precursores adorníticos. Mas numa teoria “mediadora”, que busca tornar visível a conexão entre a repressão estabelecida pela “dominação” numa relação infantil com os objetos e a “organização do trabalho”, a categoria “capital” deve ocupar o centro da questão! Contudo, em relação a esta categoria, Lorenzer parece ter só o que se pode chamar de fobia. Atribuir à psicanálise um significado seletivo e limitado dentro do âmbito do materialismo histórico e sob o seu controle, não calha bem neste ex-aluno de Mitscherlich. “A psicanálise como ‘crítica do sujeito’ não confronta a crítica de uma situação político-econômica nem como rival nem como ciência auxiliar da teoria crítica, mas como a sua outra metade”[28]. O fato de ter sido a “metade” psicanalítica, em contraste com a político-econômica, em grande parte comprometida pela ideologia burguesa e a antropologia de Freud, podendo, portanto, entrar numa “aliança infeliz” com a última, é algo que Lorenzer se recusa a admitir. Tem-se a impressão de que os psicanalistas com um conhecimento apenas superficial da economia política marxista estão lutando antes por sua ligeiramente enodoada legitimidade como psicanalistas, em vez de por um esclarecimento verdadeiramente responsável da relação entre marxismo e psicanálise.
[1] Th. Adorno. “Zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie”, op. cit., pp. 20 e 22.
[2] H. Dahmer, Psychoanalyse und Historisher Materialismus, op. cit., p. 64.
[3] H. Dahmer, op. cit., p. 63.
[4] H. Dahmer, op. cit., p. 64.
[5] K. Horn, Psychoanalyse – Anpssungslehre oder Kritischer Theorie des Subjekts, op. cit., p. 135.
[6] K. Horn, op. cit.
[7] H. Dahmer, Wilhelm Reich – Seine Stellung zu Marx umd Freud, op. cit.
[8] H. Dahmer, Psychoanalyse und Historischer Materialismus, op. cit., p. 86.
[9] H. Dahmer, ibid., p. 70.
[10] K. Horn, op. cit., p. 144.
[11] K. Horn, op. cit., p. 135.
[12] H. Wieser e J. Beyer (consultar Parte I), op. cit.
[13] A. Lorenzer, “Symbol, Interaktion und Praxis”, Psychoanalyse als Sozialwissenschaft (consultar Parte I), op. cit., pp. 43-44.
[14] A. Lorenzer, ibid., p. 51.
[15] E. Wulf, Psychoanalyse als Herrschaftswissenschaft, op. cit., p. 5.
[16] A. Lorenzer, op. cit., p. 38.
[17] A Lorenzer, ibid.
[18] A. Lorenzer, op. cit., p. 39.
[19] A. Lorenzer, op. cit., p. 40.
[20] A. Lorenzer, op. cit., p. 43.
[21] A. Lorenzer, op. cit., pp. 50-51.
[22] A. Lorenzer, op. cit., pp. 50-51.
[23] A. Lorenzer, op. cit., pp. 44-45.
[24] A. Lorenzer, op. cit., p. 54.
[25] A. Lorenzer, op. cit., p. 33.
[26] A. Lorenzer, op. cit., p. 33.
[27] A. Lorenzer, op. cit., p. 34.
[28] A. Lorenzer, op. cit., p. 55.
O presente texto foi retirado do livro Neurose e Classes Sociais: Uma síntese freudiano-marxista, Zahar, Rio de Janeiro, 1977.

Faça um comentário