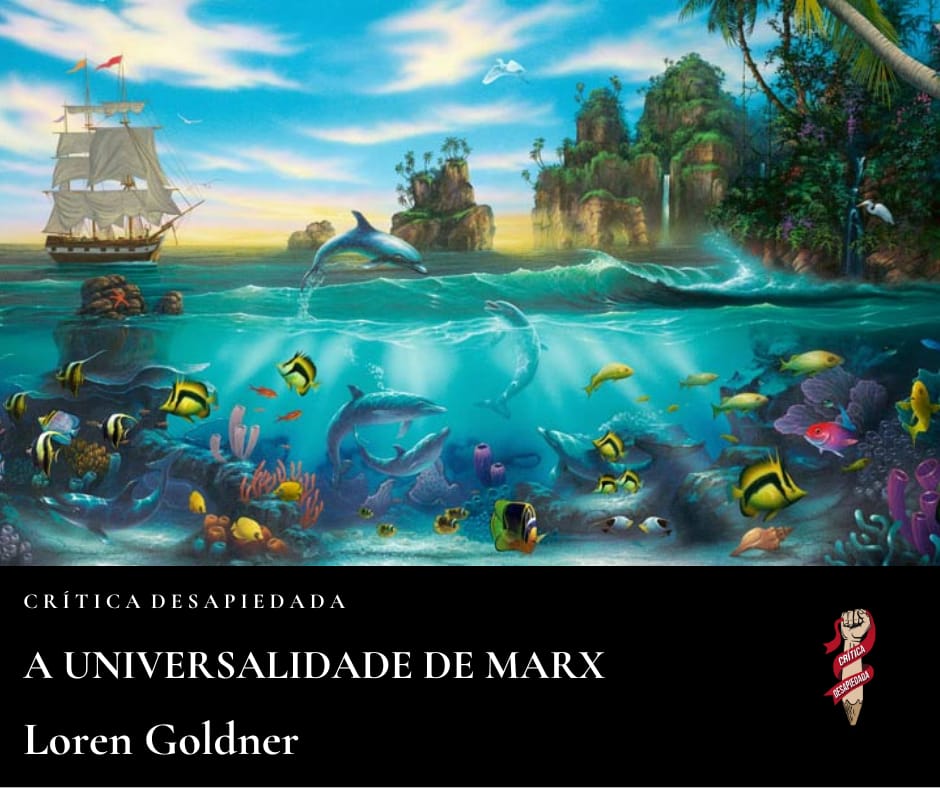
Original in English: The Universality of Marx
Resenha publicada na revista New Politics 4 (1989), 2, Nova York [novembro].
AMIN, Samir. Eurocentrism. Nova York, Monthly Review Press, 1989. 152p.[1]
A Universalidade de Marx
Uma estranha anomalia domina a presente atmosfera sócio-econômica e cultural. O mundo capitalista, há mais de 15 anos, está mergulhado na pior e mais sistêmica crise desde os anos 30, cuja dimensão ecológica é bem mais grave do que a daquele período. Ao mesmo tempo, a camada social que se autodenomina esquerda, na Europa e nos EUA, está em completo refluxo. Em muitos países do capitalismo avançado, e particularmente nos EUA, essa camada suspeita cada vez mais que a visão de Karl Marx segundo a qual o capitalismo traz essas crises como as nuvens de uma tempestade trazem as chuvas é uma visão de “macho branco”. Ainda mais estranho é o fato de o relativo eclipse de Marx girar em torno de uma ideologia de “raça/gênero/classe”, que pode soar, para os não-iniciados, como radical e vagamente marxista. Todavia, o que esse “discurso” (para usar sua própria palavra) tem feito é afastar da ideia de classe aquilo que, para Marx, a torna radical: seu estatuto de opressão universal, cuja emancipação requer o fim de toda a opressão.
Essa questão da universalidade, atacada por seus oponentes como uma visão do “macho branco”, ou como “eurocêntrica”, ou ainda como um “discurso totalizante”, está hoje no centro do atual debate ideológico, como uma das maiores manifestações da mais ampla crise mundial do século XX.
Os escritos de Marx e Engels incluem asserções sobre a qualidade do relacionamento entre homens e mulheres como a mais exata expressão da humanidade em uma sociedade determinada. Para eles, as formas comunais de associação de pessoas, como a dos iroqueses norte-americanos, foram antecipações do comunismo. Afirmam que a supressão do matriarcado pelo patriarcado na Grécia arcaica ocorreu simultaneamente à generalização da produção de excedente, ou seja, com o protocapitalismo. Marx também escreveu, contra a visão linear de progresso do Iluminismo, que, exceto o estabelecimento do comunismo, todos os progressos históricos foram acompanhados de regressões simultâneas. Mas muito disso é fartamente conhecido e não é o que incomoda os contemporâneos autointitulados de esquerda. O que os incomoda é que a concepção de universalidade de Marx e Engels não é baseada nem nos conceitos culturalistas, nem nas relações de poder, as quais estão hoje tão em moda. O universalismo de Marx é fundado numa noção de humanidade como uma espécie distinta das outras, por sua capacidade de periodicamente revolucionar os meios de extrair os bens da natureza e, portanto, libertar-se das leis fixas de população impostas pela natureza às outras espécies. “Os animais reproduzem apenas a sua própria natureza”, escreveu Marx nos Manuscritos de 1844, “mas a humanidade reproduz toda a natureza”.
Quase 150 anos depois, a compreensão de ecologia contida nessas linhas parece mais avançada do que a da maioria dos movimentos contemporâneos conhecidos por esse nome. A humanidade, em contraste com as outras espécies, não está imobilizada em suas relações com o meio ambiente através da determinação biológica. Os homens desfrutam uma infinita capacidade de criar novos meios ambientes e novas personalidades nesse processo. A história humana, desse ponto de vista, é a história dessas contínuas revoluções na natureza e na “natureza humana”.
O que incomoda a opinião da esquerda contemporânea quanto a Marx é que ele apresenta um formidável (e, do meu ponto de vista, incontestável) desafio ao culturalismo dominante, tão hegemônico, que nem sequer sabe reconhecer-se a si mesmo.
Hoje, a ideia de que existe um sentido de universalidade baseado na humanidade como espécie é vista pejorativamente, embora seus opositores raramente o digam de modo claro (ou tenham consciência de que essa é a questão). Para eles, tais ideias, como a de que o Ocidente europeu, do Renascimento para cá, foi uma formação social revolucionariamente única na história, ou a de que existe algum sentido na noção de progresso, ou a de que existem critérios para julgar o que é humano ou desumano em diferentes “culturas” são conceitos de “machos brancos”, eurocêntricos, feitos para negar às mulheres, às etnias, aos gays e ecologistas a “diferença” de sua “identidade”.
Edward Said, por exemplo, escreveu um livro muito popular, chamado Orientalism[2], no qual apresenta as relações entre Oriente e Ocidente, e entre quaisquer culturas, como um encontro inevitavelmente destinado à distorção e à degradação dessas culturas, vistas como “textos” hermeticamente selados cuja violação é sempre fatal. Em tais encontros, de acordo com Said, o Ocidente, desde o início dos tempos modernos, contrapõe um “discurso” do “próprio dinamismo” contra um Oriente “estagnado e decadente”. Como Said não antevê a possibilidade de um progresso histórico mundial, ele não discute a ideia de que o Renascimento europeu representa um marco histórico para a humanidade, o qual foi, por volta do século XV, superior às formações sociais do mundo islâmico. Tal visão não apenas trivializa a importância do Renascimento europeu como também trivializa os avanços do mundo islâmico, que, do século VIII ao século XIII, superou o Ocidente bárbaro tanto quanto os avanços das dinastias T’ang e S’ung na China, as quais, atravessando os mesmos séculos, provavelmente ultrapassaram tanto o Ocidente europeu quanto o mundo islâmico. O que, lendo Said, não se pode saber é que, no século XIII, a flor da civilização islâmica foi irreversivelmente sufocada pelo “texto” das hordas mongóis (presumivelmente também orientais), que destruíram Bagdá três vezes. Caso Said fosse transportado de volta à maravilha que era o mundo islâmico sob o califado de Abbasid, os árabes e persas que ajudaram a construir as bases do Renascimento europeu achariam o culturalismo de Said muito estranho, devido às influências de Platão e Aristóteles na filosofia islâmica daquele período e dos profetas, de Moisés a Jesus, em sua teologia. A visão de Said segundo a qual as distintas sociedades na história mundial (essa última sendo para ele sem sentido) não podem encontrar-se a não ser como entidades hermeticamente fechadas ou como “textos” mutuamente excludentes é a quintessência do culturalismo, que, sob uma pretensa radicalidade, tem sido dominante nas duas últimas décadas.
Martin Bernal escreveu um livro intitulado Black Athena[3], que a esquerda atual gosta de comparar à obra de Said, embora o livro de Bernal baseie-se numa visão oposta à obra de Said quanto às relações entre culturas e não negue a existência de progresso na história. O subtítulo de Black Athena é “As raízes afro-asiáticas da civilização clássica” e tenta mostrar precisamente como os egípcios (portanto africanos) e os fenícios (portanto semitas) influenciaram os avanços gregos na Antiguidade. Segundo o próprio Bernal, essa não é uma tentativa de trivializar a importância grega, mas sim de restaurá-la em sua verdadeira dimensão (ofuscada pelo racismo moderno e pelo classicismo antissemita), montando o cenário do diálogo entre essas e outras culturas. Se Said tivesse subtitulado seu livro “As raízes helenísticas da civilização islâmica, ou “As raízes islâmicas do Renascimento europeu”, ele estaria mais próximo de Bernal do que está e teria escrito algo diferente e muito melhor. Um livro que não seria tão popular na “era de Foucault”.
Em tal clima é quase refrescante ler Eurocentrism, de Samir Amin, um intelectual marxista egípcio cuja crítica ao etnocentrismo ocidental, incluindo as variantes eurocêntricas do marxismo, não está embasada no discurso relativista da “diferença” cultural, incapaz de realizar juízos críticos. A crítica de Amin ao eurocentrismo marxista visa não a atingir as suas últimas aspirações (frustradas) de universalidade mas a mostrar que tal marxismo não é suficientemente universal. Amin busca um caminho “para reforçar a dimensão universal do materialismo histórico”. Embora o próprio Amin tenha muitas vulnerabilidades, elas são de outra ordem. Não obstante, seu livro possui méritos por enfatizar. Os leitores devem ir além do título e distingui-lo do gênero estabelecido por Said (cuja visão de mundo Amin caracteriza, pelo uso da crítica anterior de Sadek Jalal el-Azm, como “provinciana”).
Amin toca em problemas que não estão em moda, ao compreender a dimensão universal do pensamento de Marx no que tange ao conceito de espécie humana. Ele acredita que tem havido progresso no mundo histórico, que esse progresso obviamente antecede à emergência do Ocidente, que a formação social engendrada pelo Renascimento europeu foi revolucionária, historicamente única e superior a todas as que a precederam e que suas conquistas, incluindo a ciência e a racionalidade, lançaram as bases de progressos históricos posteriores, os quais devem claramente ir além do Ocidente.
Na primeira seção do livro, apresentando um resumo das sociedades “tributaristas” (pré-capitalistas) anteriores ao Renascimento, em sua maior parte mediterrâneas, Amin desenvolve uma teoria das inovações sucessivas do Egito antigo para cá, as quais significaram avanços para toda a humanidade, possibilitando conquistas ulteriores. “A concepção egípcia de uma moral universal”, escreve Amin, “é a chave para o pensamento humano subsequente”. Mais tarde, na Grécia antiga, houve uma “explosão no campo da abstração científica”, na qual “a prática empírica, tão velha quanto a própria humanidade, formulou finalmente a questão de que a mente humana exige um esforço mais sistemático de abstração”. Além disso, os avanços do antigo Egito evoluíram para uma “metafísica cosmológica que forneceu ao helenismo, depois ao islamismo e ao cristianismo, o seu ponto de partida, como os próprios pensadores do período reconheceram”.
É possível discordar, mesmo substancialmente, da ênfase específica feita por Amin à criação, através de dois milênios, daquilo que ele caracteriza como a síntese geral da “metafísica medieval” a qual (o muçulmano) Averróis, (o judeu) Maimônides e (o cristão) Tomás de Aquino criticaram e tomaram emprestada um ao outro, sem escrúpulos. Mas Amin está correto ao dizer que as origens do eurocentrismo provêm do Oriente mediterrâneo medieval, época em que o Islã era muito superior à barbárie do Ocidente cristão, do qual emergiu o capitalismo ocidental. O isolamento artificialmente atribuído aos avanços gregos tornou possível esquecer a fase precedente do antigo Egito e, mais importante, a posterior contribuição da Alexandria helenística, à qual tanto o cristianismo quanto o Islã devem tanto e que mais tarde transmitiram à Europa. Segundo Amin, foi precisamente o atraso da Europa em relação ao islamismo mediterrânico que possibilitou o impulso europeu subsequente, nos locais onde a Europa não teve de confrontar a sofisticada metafísica medieval do Islã. Presumivelmente, ninguém chamará Amin de “orientalista” quando ele nota “a redução da razão a uma única dimensão dedutiva” pela metafísica cristã e islâmica e quando ele reconhece a contragosto que “o pensamento árabe contemporâneo ainda não escapou a isso”.
A crítica de Amin ao eurocentrismo não é, como dissemos, a última afirmação da singularidade do capitalismo moderno e de sua contribuição ao progresso humano durante um certo período histórico há muito terminado. Amin ataca o modo pelo qual o capitalismo reinterpretou a história para criar um “Ocidente” imaginário que, sozinho, teria produzido seus próprios avanços. Ao rejeitar as tentativas de descobrir leis históricas universais que poderiam situar as conquistas ocidentais com relação às outras sociedades que ajudaram a construir suas bases (como Bernal apontou quanto aos antigos gregos), o Ocidente criou uma poderosa ideologia que nega as leis históricas globais que o engendraram e sabota assim o caráter realmente universal de seus próprios avanços. Desse modo, o Ocidente “eternizou” o progresso como exclusividade de seu passado e de seu futuro. Vale a pena, nesse momento, citar este longo trecho de Amin:
A ideologia e a cultura dominante do sistema capitalista não podem ser reduzidas somente ao eurocentrismo. Mas, se o eurocentrismo não possui, em sentido estrito, o estatuto de uma teoria, também não é simplesmente a soma dos preconceitos, erros e desatinos dos ocidentais em relação a outros povos. Se fosse o caso, ele seria apenas uma das formas banais de etnocentrismo, comum a todos os povos em todos os tempos… A distorção eurocêntrica que caracteriza a cultura capitalista dominante nega a ambição universalista na qual essa cultura se orgulha de estar fundada [ênfase minha]… A cultura iluminista defrontou uma contradição real que não iria resolver por seus próprios meios, pois era evidente que o capitalismo nascente, que produziria o Iluminismo, expandira-se pela Europa. Além disso, o novo mundo embrionário superava, no aspecto material e em muitos outros, as sociedades anteriores, tanto em seus próprios territórios (Europa feudal) quanto em outras regiões do mundo (o vizinho Oriente islâmico, o Oriente mais distante). A cultura do Iluminismo não foi capaz de reconciliar tal superioridade com suas ambições universalistas. Ao contrário, ela derivou gradualmente rumo ao racismo, como explicação para o contraste entre ela própria e as outras culturas. Assim, caminhou em direção aos nacionalismos, a partir do início do século XIX, empobrecendo-se em face do cosmopolitismo precedente.
Considerando essas palavras, é desnecessário dizer que Amin despreza o fundamentalismo islâmico e outros culturalismos terceiro-mundistas, por ele diagnosticados como provincialismos antiuniversalistas, que fazem contraponto ao provincialismo de Said e dos críticos pós-modernos do “pensamento branco-machista” (Amin não usa essas palavras; eu sim).
A fusão do “machismo branco” com o universalismo humanista produzido pela história mundial atualmente reproduz a ideologia dominante, negando o marco do Renascimento no contexto mais amplo da história humana e deixando de reconhecer as contribuições dos “não-brancos” para aspectos-chave da cultura “ocidental”, como Bernal mostrou em Black Athena. (Bernal deixa aos nacionalistas negros o problema de conciliar sua corroboração da dimensão africana do Egito antigo, por eles sempre mantida, com sua insistência em afirmar a importância da influência egípcia na cultura grega, a qual, entretanto, eles têm sempre denunciado como “branca”). Tanto o provincianismo eurocêntrico quanto o provincianismo antiocidental são incapazes de desfrutar uma abordagem verdadeiramente universalista da história.
Apesar das inegáveis virtudes de Eurocentrism, o livro de Amin está repleto de falhas, ainda que de outra espécie.
O que o autor oferece brilhantemente em seu diagnóstico ele retira totalmente em sua prescrição para o tratamento. Eu aplico a ele a mesma crítica por ele aplicada aos eurocentristas: ele não é suficientemente universal. Seu universalismo não é o da classe global de trabalhadores explorados pelo capitalismo, mas o de um diálogo da autossuficiência do Terceiro Mundo. Ele começa buscando “reforçar a dimensão universal do materialismo histórico”, mas termina apenas apresentando, em linguagem ligeiramente modificada, o tipo de marxismo cuja derrocada, nos anos 70, ajudou a gerar o pós-modernismo em seu início. O universalismo de Amin não é o da classe internacional dos trabalhadores e seus aliados, mas o do Estado. O ponto de partida dos pós-modernistas é a sua afirmação de que todo universalismo é necessariamente uma apologia oculta do poder, como o poder do Estado. Amin, infelizmente, não irá negá-los.
Quem é Samir Amin? Ele é talvez melhor lembrado com o autor de Acumulação em escala mundial, em dois volumes, o qual, assim como Eurocentrism e a maioria de seus outros livros, foi traduzido e publicado, não por acaso, pela Monthly Review Press. Talvez ele seja menos caridosamente lembrado como um dos mais enfáticos apologistas do regime de Pol Pot, no Camboja, de 1975 a 1978, mesmo quando tornou-se conhecido o quase genocídio político do Khmer Vermelho, que exterminou pelo menos um milhão dos oito milhões de cambojanos. O Camboja é de fato um exemplo da estratégia de Amin conhecida como de-linking, cujas repetidas experiências infelizes Amin oculta sob o nome de estratégia “nacional-popular democrática”, na impossibilidade de caracterizar a URSS, a China ou o regime de Pol Pot de “socialistas”. (O Camboja, significativamente, não é uma só vez mencionado em Eurocentrism).
Amin pertence a uma constelação de pensadores, como Bettelheim, Pailloix, Immanuel e Andre Gunder-Frank, que partiram das ideias de Baran e Sweezy, tornando-se conhecidos após a Segunda Guerra Mundial como os partisans (embora não estivessem de total acordo entre si) da escola marxista do “capital monopolista”. A tendência ligada à Monthly Review revê como fórum a editora e o jornal do mesmo nome, e sua evolução, dos anos 40 aos anos 80, privilegiou os movimentos e regimes “anti-imperialistas”, por acreditar que de-linking (para usar o termo de Amin) era o único caminho pelo qual tais movimentos e regimes (que os mencionados intelectuais tendiam então a chamar de socialistas) poderiam desenvolver os países atrasados. Essa inclinação empurrou-os da Rússia de Stálin à China de Mao, através da Indonésia de Sukharno e da Ghana de Nkrumah. Da Argélia de Ben-Bela à Cuba de Castro. Na maioria das vezes, eles saíram decepcionados. Ficaram do lado da China no conflito sino-soviético. A evolução dos acontecimentos pós-Mao congelou-os a respeito da China, mas esse desapontamento foi rapidamente seguido pelo Camboja de Pol Pot, a expulsão, em barcos, de etnias chinesas do Vietnã, a invasão vietnamita do Camboja, a guerra na fronteira sino-vietnamita em 1979 e a virtual aliança entre a China e os EUA. Foi duro ser “anti-imperialista” nesses tempos, quando as forças anti-imperialistas estavam todas em guerra contra elas mesmas, e quando a China era armada pelo maior dos imperialistas. Com a guinada fundamentalista da Revolução Iraniana, em 1980, muita gente, inclusive no Terceiro Mundo, estava chegando à conclusão de que o “anti-imperialismo”, por si mesmo, não bastava, e alguns já começavam a pensar que podia existir algo como um anti-imperialismo reacionário. Finalmente, por volta da mesma época, países como a Coreia do Sul e Taiwan emergiram como potências industriais, através não da autossuficiência mas do mercado mundial e da divisão internacional do trabalho, o que Amin e seus amigos sempre consideraram impossível.
De-linking é uma palavra glamourizada para uma ideia desenvolvida por Stálin: a do “socialismo num só país”. (Amin acha que Stálin foi muito duro com os camponeses, mas nunca disse o que achou dos milhões que morreram como vítimas do Grande Passo Adiante de Mao). A vertente à qual Amin está ligado embasa sua estratégia mundial na teoria do “desenvolvimento desigual”, visto como um subproduto permanente do capitalismo. Isso em si está bem e foi elaborado com muito mais sofisticação por Trotsky, há 80 anos. Para Amin e seus parceiros intelectuais, de-linking é uma estratégia para quebrar os “elos fracos” da corrente do capitalismo internacional. Karl Marx também criou uma teoria dos “elos fracos”, chamando-a de “revolução permanente”, termo significativamente jamais utilizado por Amin, talvez devido às conotações trotskistas. Marx aplicou-o à Alemanha, em 1848, para explicar a possibilidade de os trabalhadores alemães, em face da fraqueza da burguesia alemã, ultrapassarem o liberalismo burguês na luta pela democracia, rumando para o socialismo e dando à revolução um caráter “permanente”. Leon Trotsky aplicou a mesma teoria à Rússia pós-1905, e estava só, antes de 1917, ao antever a possibilidade de uma revolução encabeçada pela classe trabalhadora na Rússia atrasada.
Todavia, Marx e Trotsky, diferentemente de Amin, não propunham que os trabalhadores, nos países de tipo “elo fraco”, se separassem do resto do mundo. Eles viam a classe trabalhadora como uma classe internacional, e os trabalhadores alemães, depois os russos, como líderes potenciais de um processo revolucionário mundial. Seguindo essa lógica, a estratégia revolucionária dos bolcheviques em 1917 dependia, para sobreviver, inteiramente de uma revolução vitoriosa na Alemanha. Quando a Revolução Alemã falhou, a Revolução Russa foi isolada e imobilizada. A estratégia bolchevique não era separar (de-link), mas unir (re-link) e encorajar a revolução no setor avançado do capitalismo. Quando Stálin propôs a ideia inédita e grotesca do “socialismo num só país”, que implicou um draconiano isolamento, o conceito de-linking foi introduzido no arsenal do socialismo[4].
Embora Amin e seus colegas da Monthly Review raramente esclareçam suas próprias origens, sua teoria nasceu da derrota e não da vitória da onda revolucionária mundial de 1917/1921. Amin conserva da concepção de Marx de revolução permanente apenas o aspecto do “elo fraco”. O autor de Eurocentrism pensa que de-linking salva os trabalhadores e camponeses dos países isolados do sangrento processo de acumulação primitiva imposto pelo capitalismo ocidental, mas essa estratégia apenas legitima o mesmo processo, agora levado adiante pela elite “anti-imperialista” local. Os trabalhadores e camponeses do Camboja, por exemplo, aprenderam isso duramente. A teoria de Amin também separa (de-links) os trabalhadores e camponeses do Terceiro Mundo da única força cuja intervenção (como os primeiros bolcheviques compreenderam) poderia tirá-los desse pesadelo: o movimento internacional da classe trabalhadora, centrado ainda no Ocidente. (Amin acredita que a realização da revolução socialista pela classe trabalhadora ocidental é essencialmente uma fantasia; ele pelo menos tem a honestidade de dizê-lo). Finalmente, a teoria de Amin liga os trabalhadores e camponeses dos países isolados (de-linked), sob os auspícios da “democracia nacional-popular” (que ele não mais ousa chamar de socialismo, como o fizeram, ele e outros, anteriormente), a Mao, Pol Pot e seus possíveis futuros herdeiros, os quais substituem o Ocidente capitalista por eles próprios, levando adiante aquela acumulação sob teórica do “construindo o socialismo”. Por isso, é apropriado ver a teoria de Amin como uma expressão da elite burocrática do Terceiro Mundo, e seu universalismo como um universalismo de Estado.
Todas essas questões são tocadas apenas de forma alusiva em Eurocentrism. De-linking, livro de Amin surgido na França em 1985 e um pouco mais tarde em inglês, é mais explícito. Nessa obra, Amin aborda cautelosamente o problema do Camboja, falando (como tais pessoas costumam fazer) de “erros”, embora ele não explique em nenhum lugar o por que de-linking dará certo na próxima vez.
É pena que a enérgica defesa feita por Amin de alguns dos mais importantes aspectos da obra de Marx, tão malditos no clima atual do culturalismo pós-moderno, e a tentativa, muito necessária, de ir além do marxismo eurocêntrico sejam esforços por demais contraditórios diante da estratégia de-linking de Amin, tipo “democracia nacional-popular”. “Nacional” e “popular” foram palavras centrais na linguagem fascista, e nenhum dos regimes elogiados por Amin durante tantos anos por terem adotado o de-linking possui uma gota sequer de democracia.
A próxima conquista na história humana precisa ir além da exploração que caracteriza o capitalismo mundial, na “periferia” e no “centro”. A história recente tem assistido a casos suficientes de fracasso do de-linking, os quais levaram pessoas, em lugares como a Polônia, a China e o Camboja, a acreditar que o capitalismo ocidental pode oferecer-lhes algo positivo. Ele não pode. Mas tampouco Samir Amin.
[1] O livro foi publicado no Brasil em 2021 pela editora Lavra Palavra. Consulte: O eurocentrismo: crítica de uma ideologia, por Samir Amin.
[2] Edward Said, Orientalism, Pantheon, 1978. Publicado no Brasil em 1990 pela Companhia das Letras. (N.T.)
[3] Martin Bernal, Black Athena, Nova Jersey, Rutgers University Press, 1987.
[4] Loren Goldner esclarece, para o debate brasileiro atual, que se refere a Trotsky unicamente no contexto de sua aplicação da teoria da “revolução permanente” ao caso russo nos anos 1905-1917. Sublinhar o brilhantismo de Trotsky no desenvolvimento dessa análise e a dimensão internacionalista da estratégia bolchevique dos primeiros anos após 1917 (tão diferente do que ocorreu mais tarde) não é absolutamente negar o papel de Trotsky e do partido bolchevique na degeneração da Revolução Russa e mundial nem de nenhum modo solidarizar-se com ele. (N.T.)
Tradução de Charles Palson e Doris Accioly e Silva. Publicado originalmente na revista Educação & Sociedade, n. 37, dezembro de 1990.

Faça um comentário