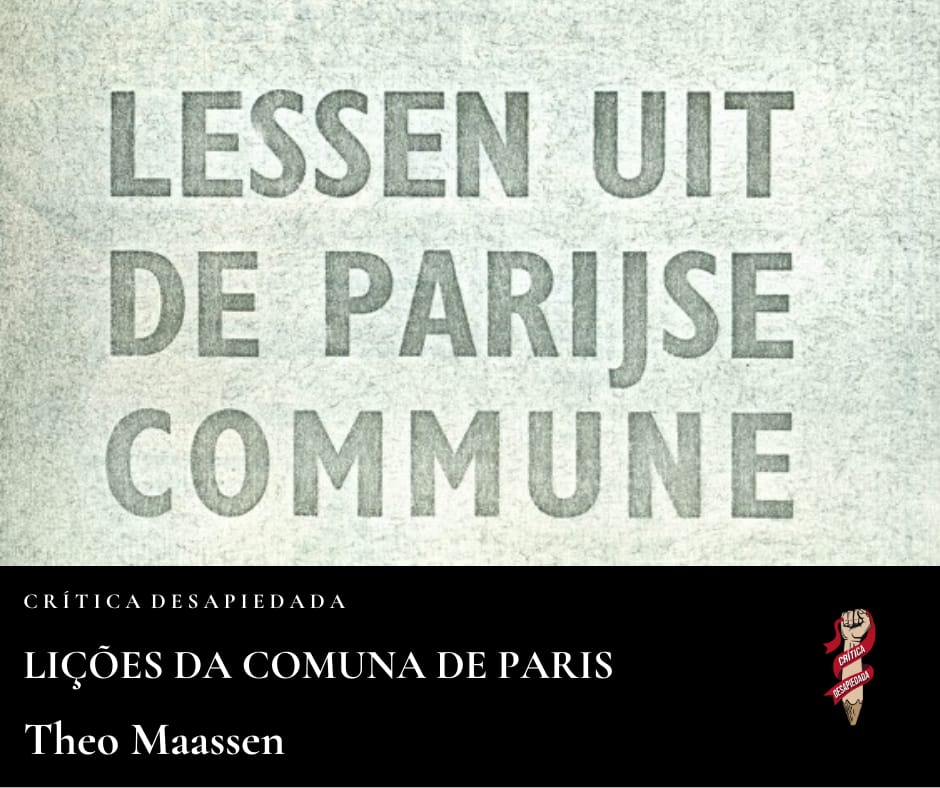
[Nota do Crítica Desapiedada]: O presente ensaio é a primeira tradução para o português de um texto de Theo Maassen (1891-1974), histórico militante comunista de conselho neerlandês, integrante do GIC (Grupo de Comunistas Internacionalistas), Liga “Spartacus” e um dos principais redatores do Daad en Gedachte, ao lado de Cajo Brendel. Boa leitura!
==
Disponibilizamos um dossiê sobre a Comuna de Paris. Confiram!!
Introdução: Algumas observações críticas sobre “Lições da Comuna de Paris” – Fredo Corvo
A brochura “Lições da Comuna de Paris” da Liga Comunista Spartacus[1] se mostra relevante até hoje. Ela contém, de forma breve, algumas das lições que Marx extraiu da Comuna. Mais importante, o texto refuta habilmente a afirmação de Arthur Rosenberg de que Marx se apropriou da Comuna; uma afirmação cujas variações encontramos também entre anarquistas que reivindicam que a Comuna foi influenciada por Blanqui, Blanc e Proudhon, entre outros. Em um texto de Karl Korsch de 1929[2] encontramos o mesmo e, recentemente, Jasper Bernes[3] referenciou Korsch em afirmações semelhantes. Por fim, a brochura destaca o desenvolvimento espontâneo da revolução de 1871 para rejeitar as reivindicações de uma vanguarda como a dos bolcheviques — reivindicações que vários neoleninistas fazem ainda hoje.
Ao mesmo tempo, a argumentação sobre esses três pontos positivos é fraca. Reconhecemos o declínio teórico da Liga Comunista Spartacus, que resultou na ruptura indefinida entre o grupo Ação e Pensamento (Daad en Gedachte) e a Liga em 1964, que há algum tempo já não se chamava mais “comunista”. Tanto a Liga Spartacus quanto o Daad en Gedachte deixaram de ser chamados de comunistas de conselhos, sendo depreciativamente chamados de conselhistas. Theo Maassen, o autor deste panfleto, assim como Cajo Brendel, passou para o D&G.
Desenvolvimento espontâneo
O cerne do posterior “conselhismo” já pode ser encontrado no panfleto de 1953, em uma supervalorização da “espontaneidade”, um conceito vago que esconde que, além das circunstâncias em mudança, uma erupção da luta dos trabalhadores é precedida por um desenvolvimento de consciência, muitas vezes articulado por uma minoria. O panfleto menciona alguns exemplos disso.
Em primeiro lugar, a Comuna de Lyon. Esse foi um movimento revolucionário de curta duração em Lyon, França, em 1870-1871. Republicanos e ativistas de várias vertentes da extrema-esquerda tomaram o poder em Lyon e estabeleceram um governo autônomo. A comuna organizou eleições, mas foi dissolvida após o restabelecimento da “normalidade” republicana, o que levou à frustração dos elementos mais radicais, que esperavam por outra revolução. Elementos radicais tentaram duas vezes retomar o poder, mas sem sucesso. Esses eventos em Lyon ocorreram no contexto de uma onda revolucionária de uma série de levantes semelhantes na maioria das grandes cidades francesas, na esteira do colapso do Segundo Império Francês, culminando na Comuna de Paris de 1871[4].
O panfleto menciona brevemente C. Talès, que escreveu que a ideia da “república social” ganhou força nos meses que antecederam a Comuna.
Mas o panfleto passa rapidamente por cima desses indícios ao afirmar que a Revolução da Comuna surgiu sem que houvesse um partido decidido, com um programa, ou que marchasse à frente da massa. Trata-se de uma caricatura “leninista” do partido bolchevique na Revolução Russa de 1917, que sequer corresponde à realidade russa.
A Liga Comunista Spartacus queria fundar também um partido em 1945, mas de um tipo completamente diferente[5] .
Negar o desenvolvimento prévio de uma minoria revolucionária e seu papel estimulante no desenvolvimento “espontâneo” da luta de massas e da consciência está apenas a um pequeno passo de negar o próprio papel da Liga Comunista Spartacus e se limitar a fazer análises retrospectivas como hobby. O texto fornece vários exemplos de opiniões de minorias revolucionárias que foram (ou que poderiam ter sido) importantes para a Comuna, como o conselho de Marx para tomar o Banco Nacional e fortalecer militarmente Montmartre, bem como suas críticas a outras decisões que poderiam ter retardado a rápida derrota da Comuna.
Marx, assim como todos, foi surpreendido pela eclosão da Comuna, e a considerou uma revolução prematura devido ao predomínio das pequenas empresas. Mas quando a revolta da Comuna em Paris estourou, ele a apoiou firmemente, mantendo sua ideia de que o desenvolvimento da grande indústria na Alemanha oferecia mais oportunidades. E, de fato, em 1905 e 1917 na Rússia e em 1918 na Alemanha, Áustria e Hungria, surgiu na grande indústria uma nova organização da Comuna: os conselhos de trabalhadores. Os textos de Marx sobre a Comuna contêm análises e lições voltadas para um desenvolvimento futuro da luta dos trabalhadores. Em contrapartida, o panfleto da Spartacus pensa que Marx cometeu um erro e que a Comuna espontânea o ajudou a corrigir esse erro com percepções posteriores.
Refutação incompleta de Rosenberg
Obviamente, não há nada de errado no fato de a luta dos trabalhadores levar a mudanças de percepção e essas mudanças serem admitidas com clareza. Mas, será que está correto quando o panfleto escreve o seguinte sobre Marx?:
Marx não teve, evidentemente, a possibilidade de confrontar a prática da revolução bolchevique com as experiências da Comuna de Paris. Porém, a revolução de 1871 também possibilitou que ele fizesse uma declaração clara sobre como a libertação da classe trabalhadora poderia ou não ocorrer. Ao fazer isso, ele de fato (e estritamente falando, pela segunda vez) criticou uma visão proclamada por ninguém menos que ele mesmo no “Manifesto Comunista”.
No entanto, ele havia desenvolvido o programa da revolução dos trabalhadores: a conquista do Estado pelo proletariado. Mas no texto dedicado à Comuna de Paris, ele diz: “A classe trabalhadora não pode simplesmente tomar posse da máquina estatal existente e colocá-la em movimento para seus próprios fins”.
O panfleto faz essa afirmação na tentativa de negar o caráter proletário da revolução na Rússia. No entanto, ele ignora o caráter de classe de três revoluções: a de 1848 (Manifesto), 1871 (Comuna) e 1917 (de Outubro na Rússia), e como Marx reagiu às duas primeiras, e os bolcheviques à terceira:
- Em 1848 ocorreu uma revolução burguesa na Alemanha. A tática de Marx era a da revolução permanente, uma revolução burguesa realizada pelo proletariado na Alemanha, que então se uniria ao proletariado rebelde da França na trilha do caminho rumo à revolução proletária. A revolução falhou.
- Em 1871 ocorreu a primeira revolução proletária bem-sucedida, com limitações, pois ocorreu no interior de um modo de produção pequeno-burguês.
- Em 1917, foi uma revolução proletária realizada por conselhos no grande setor industrial. Os bolcheviques interpretaram 1917 tomando equivocadamente como modelo o Manifesto Comunista, como uma revolução burguesa levada a cabo pelo proletariado[6]. Os comunistas de conselhos a consideraram, no máximo, uma revolução dupla, burguesa e proletária.
Marx não corrigiu em 1871 um erro de 1848. A Revolução Alemã fracassada de 1848 implicava, como revolução burguesa, a conquista do estado feudal, e não sua destruição. Isso não era uma questão de vontade ou ideal de Marx, ou mesmo uma má intenção, como pensam Bakunin e os bakuninistas. A estratégia de Marx, no Manifesto e em muitos outros escritos, resultou da experiência de todas as revoluções burguesas bem-sucedidas anteriores que tomaram o estado feudal e o transformaram de acordo com seus interesses de classe. A Revolução de 1871 confirmou para Marx as ideias de seus escritos da juventude, de que a revolução proletária encontra seu inimigo mortal no Estado explorador.
Lições incompletas
Engels caracterizou a Comuna como a ditadura do proletariado[7].
Com isso, chegamos a uma omissão das lições da Comuna de Paris: ela foi a ditadura do proletariado; portanto, uma ditadura sobre a burguesia pelas massas trabalhadoras mais amplas. Como órgão de repressão da contrarrevolução, a Comuna era também um meio-Estado, “meio” no sentido de que desapareceria com a burguesia e com todas as classes. O panfleto ignora isso em formulações como a seguinte:
“A destruição do Estado; a criação de uma organização em que o poder residia nos próprios produtores e que não é mais um Estado de forma alguma (…)”
O que se destaca em “que não é um Estado de forma alguma” não é nem mesmo sua semelhança com a visão anarquista, mas principalmente uma diferença com a visão do Grupo Comunista Internacionalista (GIC) conselhista dos anos 1930, que caracterizava o controle dos negócios pelos conselhos de trabalhadores como a “ditadura econômica do proletariado”[8].
Fredo Corvo, 21-10-2025
[1] Communistenbond ‘Spartacus’, Spartacus over: Lessen uit de Parijse Commune” (1953).
[2] Karl Korsch, Revolutionary Commune (1929).
[3] Jasper Bernes, The Future of revolution. Communist prospects from the Paris Commune to the George Floyd Uprising (2025), p. 30
[4] Wikipedia, Lyon Commune. Helaas ontbreekt in de brochure elke informatie over de Commune van Lyon. We verwijzen naar Wikipedia. Wikipedia, Comuna de Lyon. Infelizmente, falta no panfleto qualquer informação sobre a Comuna de Lyon. Remetemos à Wikipedia.
[5] Communistenbond ‘Spartacus’, Taak en Wezen van de Nieuwe Partij (1945).
[6] Para mais explicações: “O mito fatal da revolução burguesa na Rússia”. Uma crítica às “Teses sobre o bolchevismo” de Wagner.
[7] F. Engels: “O filisteu social-democrata recentemente tomou outra vez um susto salutar com as palavras: ditadura do proletariado. Muito bem, senhores, querem saber como é essa ditadura? Olhem para a Comuna de Paris. Essa foi a ditadura do proletariado.” (Engels, introdução à edição de 1891 da Guerra Civil na França de Marx)
[8] GIC, Grondbeginselen van de Communistische Productie en Distributie (primeira edição impressa baseada na versão de 1935).
Lições da Comuna de Paris (1953) – Theo Maassen[1]
Prefácio
As páginas a seguir contêm três ensaios que apareceram como artigos separados no semanário “Spartacus”, em 21 de março, 4 de abril e 18 de abril de 1953, todos os três tratando da Comuna de Paris de 1871. Eles foram aqui reunidos como três capítulos, sob um título comum, após terem passado, aqui e ali, por uma leve ampliação.
O título desta brochura fala por si próprio e enfatiza suficientemente, acreditamos, que ela está longe de querer ser sequer uma “breve” história da Comuna. E, no entanto, é sobretudo a necessidade de literatura sobre a história do movimento operário, que existe entre a juventude proletária atual, que nos levou à publicação deste escrito.
Amsterdã, 1º de maio de 1953
Liga Comunista “Spartacus”
—
A COMUNA DE PARIS E O PROLETARIADO
Em dezoito de março de 1871, na Paris sitiada pelas tropas alemãs, começou uma revolução que viria a ser conhecida pela história como “A Comuna”. Setenta dias depois, em 28 de maio do mesmo ano, após uma série de combates em barricadas por diversos pontos da capital francesa, ela foi afogada em sangue por uma reação mortífera e apavorada. Dois dias depois, em 30 de maio de 1871, o Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores, fundada em 1864, publicou um panfleto confeccionado por Karl Marx, que explicava o significado da Comuna. Esse livreto, que levou o título de “A Guerra Civil na França”, encerra-se com a afirmação de que “a Paris dos trabalhadores, com sua Comuna, será eternamente lembrada como o glorioso prenúncio de uma nova sociedade”.
Foram palavras proféticas com as quais Marx, bastante impressionado pelos eventos, encerrou suas reflexões sobre a Comuna de Paris. De fato, todos os anos, até hoje, trabalhadores de Paris e seus subúrbios marcham até o Cemitério Père Lachaise no dia 18 de março para cobrir os túmulos dos combatentes da Comuna com flores vermelhas. E em todo o mundo, das fábricas têxteis japonesas até as minas californianas, o proletariado, desde o início, considerou a Comuna de 1871 como um assunto seu.
A explicação para isso, a explicação para o fato de que, realmente, “os mártires da Comuna estão inseridos no grande coração da classe trabalhadora”, como Marx havia escrito em “A Guerra Civil na França”, já pode ser encontrada nesse mesmo documento publicado pela Primeira Internacional.
Sobre a Comuna é dito que seu segredo consistia no fato de ser real e essencialmente “um governo da classe trabalhadora”, “o resultado da luta da classe produtora contra a classe exploradora, a forma política finalmente descoberta pela qual a libertação econômica do trabalho poderia se realizar”. Essa caracterização de Marx, com a qual ainda nos ocuparemos mais adiante, é — por si só, cremos nós — motivo suficiente para que todos os trabalhadores se aprofundem na Comuna de Paris.
Quando nos propomos a oferecer uma contribuição ao tema (por mais modesta que seja) por meio deste escrito, vemo-nos obrigados, antes de tudo, a ocupar-nos por alguns instantes de duas correntes políticas, ambas as quais, cada uma a seu modo, tentaram ou ainda tentam utilizar a Comuna para seus fins particulares: o bolchevismo e a social-democracia.
Foi o bolchevique Trotsky que — seguindo o socialista russo Lavrov — saudou a Comuna de Paris como “a tênue aurora da primeira república proletária”. Não há qualquer dúvida de que ele, Trotsky, considerava a chamada “União Soviética”, criada como resultado da Revolução Russa de Outubro, como a segunda “república proletária” e que, com essas palavras de seu livreto “Terrorismo e Comunismo”, ele queria mostrar que a revolução de 1917 era semelhante em todos os aspectos à que ocorreu em Paris em março de 1871.
Mas é justamente tal paralelo que os bolcheviques não têm o direito de traçar. Afinal, a Comuna, no tempo relativamente curto de sua existência, tomou uma série de medidas — e Marx as enumerou com aprovação em seu panfleto mencionado acima — por meio das quais a antiga máquina estatal foi substituída por uma organização completamente diferente da vida social, na qual o poder residia nos próprios produtores e que não era mais um Estado sob qualquer forma. Na Revolução Russa, por outro lado, a antiga máquina estatal não foi substituída por uma nova organização social; em vez disso, tentou-se transformar o Estado (semiburguês, semifeudal) no que Lênin e seus associados chamaram de “Estado proletário”: uma tentativa, em suma, de usar a máquina estatal existente para os propósitos do proletariado, para os propósitos da vanguarda proletária, para os propósitos do partido bolchevique.
A Comuna era constituída por conselhos municipais eleitos por sufrágio universal nos diversos bairros de Paris, sendo seus membros diretamente responsáveis perante a classe trabalhadora e podendo ser destituídos a qualquer momento por seus eleitores proletários. Na Rússia “Soviética”, os conselhos operários, constituídos de forma semelhante, foram privados de toda influência política pelo partido bolchevique. Não havia qualquer indício de que — como resultado da Revolução de Outubro — os bolcheviques fossem responsabilizados perante os trabalhadores. Pelo contrário: a classe operária russa era governada pelo partido bolchevique, não possuía qualquer poder, nem estava — o que é apenas outro aspecto dessa mesma realidade — liberta da escravidão salarial. A Comuna de Paris, entretanto, não eliminou apenas uma forma específica de dominação de classe — como aconteceu na Rússia —, mas a própria dominação de classe. É justamente por isso que ela possui um significado extraordinariamente grande para o proletariado internacional. Ela permitiu mostrar aos trabalhadores de todos os países, o que é a revolução proletária, enquanto a Revolução Russa representa um exemplo do que a revolução proletária não é.
Marx não teve, evidentemente, a possibilidade de confrontar a prática da revolução bolchevique com as experiências da Comuna de Paris. Porém, a revolução de 1871 também possibilitou que ele fizesse uma declaração clara sobre como a libertação da classe trabalhadora poderia ou não ocorrer. Ao fazer isso, ele de fato (e estritamente falando, pela segunda vez) criticou uma visão proclamada por ninguém menos que ele mesmo no “Manifesto Comunista”.
No entanto, ele havia desenvolvido o programa da revolução dos trabalhadores: a conquista do Estado pelo proletariado. Mas no texto dedicado à Comuna de Paris, ele diz: “A classe trabalhadora não pode simplesmente tomar posse da máquina estatal existente e colocá-la em movimento para seus próprios fins”. E em uma carta para seu amigo Ludwig Kugelmann, enviada em 12 de abril de 1871 em Hannover, um período, portanto, em que a Comuna ainda detinha o poder em Paris, ele declarou: “Se você reler o último capítulo do meu ‘Dezoito Brumário’ (um texto de Marx de 1852), vai encontrar que eu expresso ali a expectativa de que, na próxima revolução na França, o aparato burocrático-militar não seja mais passado de uma mão para a outra, como tem sido o caso até agora, mas que se tente quebrá-lo, e essa é a pré-condição para qualquer verdadeira revolução popular no continente. Essa tentativa também está sendo feita por nossos heroicos partidários parisienses”. Quando Friedrich Engels, amigo leal de Marx, mais tarde reitera explicitamente esses pensamentos, ele também fala da “derrocada do velho poder estatal”.
A destruição do Estado; a criação de uma organização em que o poder residia nos próprios produtores e que não era mais um Estado de forma alguma; a destituição direta dos membros eleitos da Comuna pelos eleitores proletários; a responsabilidade dos eleitos pelas massas trabalhadoras; tudo isso, segundo Marx, constituía o “segredo” da Comuna, sua essência.
Quão nitidamente essa concepção contrasta com a dos social-democratas do tipo do falecido Karl Kautsky, por exemplo, o homem que durante anos foi considerado o representante teórico dos socialistas alemães e europeus. Este não só permaneceu totalmente fiel à posição do “Manifesto Comunista”, segundo a qual era necessário conquistar o poder político no Estado burguês, como também considerou sempre esta a lição mais importante da Comuna, ou seja, que os seus membros eram eleitos por meio do sufrágio universal.
O que Kautsky e seus companheiros social-democratas tentavam provar com isso — por mais incrível que pareça — era que aquilo que Marx considerava o poder real da classe operária já havia sido realizado na sociedade capitalista no primeiro quarto do século XIX e, por exemplo, em um país como a Holanda, já existia há quase vinte anos, em meados da década de trinta (quando Kautsky deu forma definitiva a essa opinião).
O que esses senhores social-democratas esqueceram foi o “detalhezinho” de que, na época das eleições da Comuna em Paris, praticamente todos os elementos burgueses haviam deixado a cidade, de modo que, por essa razão, o sufrágio universal da Comuna não pode ser equiparado ao da sociedade de classes capitalista, onde a chamada “democracia” nada mais é do que a ditadura da burguesia. O que os social-democratas também deixaram de mencionar — ou negligenciaram, se preferir — foi que Marx tinha tão pouca simpatia pela democracia parlamentar, à qual eles juram fidelidade, que ele declarou explicitamente e com aprovação que a Comuna “não queria ser um corpo parlamentar, mas de trabalho”.
Quando o francês C. Talès[2] comenta, em um livrinho encantador sobre a Comuna, sobre como tudo o que parecia burguês e pensava ser burguês buscou sua salvação na fuga, ele logo acrescenta as seguintes palavras: que nunca antes houvera uma revolução que tivesse danificado a velha máquina estatal. Essa frase aparece em uma passagem na qual ele demonstra que a revolução de 1871 inevitavelmente teve de fazer isso, simplesmente porque se viu diante da necessidade de “perecer ou criar algo novo”.
A Comuna de Paris de 1871 de fato criou algo novo. E — fato importante, que deve ser imediatamente destacado após o que Karl Marx observou sobre essa primeira revolução proletária — ela o fez sem que houvesse um partido definido, que tivesse previamente apresentado seu programa ou que marchasse à frente das massas. Talès descreve com detalhes, em seu já mencionado livrinho, a completa ausência de um partido desse tipo e prova, com isso, que foi a própria massa proletária de Paris que, por meio da Comuna, deu expressão à sua vontade revolucionária e à sua forma política. Com isso, o proletariado daquela época deu uma lição extremamente significativa ao proletariado de hoje e mostrou quais forças ocultas ainda estão adormecidas na classe oprimida pelo capitalismo.
Ainda hoje, há correntes no movimento dos trabalhadores que têm dificuldade de entender essa lição da Comuna de Paris. Então é de se admirar que a classe dominante daquela época, firmemente convencida de sua própria força e capacidade, não tivesse fé alguma nas habilidades dos trabalhadores e esperasse com um sorriso altivo que suas tentativas revolucionárias fracassassem? “Eu não acreditava nisso”, disse Jules Favre, um dos burgueses franceses daquela época. “Eu não acreditava que os insurgentes parisienses seriam capazes de tocar os próprios assuntos.” Mas nos meses de março e abril de 1871, o “inacreditável” se mostrou verdadeiro. Entre todas as importantes lições políticas e sociais que a Comuna ainda tem a nos oferecer, essa talvez seja a mais encorajadora para os trabalhadores de hoje.
—
KARL MARX E A COMUNA DE PARIS DE 1871
Dois dias após a burguesia francesa pôr um fim sangrento à Comuna de Paris de 1871, Karl Marx — como vimos no capítulo anterior — concluiu em Londres a obra com a qual a Associação Internacional dos Trabalhadores se dirigiu posteriormente ao proletariado do mundo todo. Existem numerosos mal-entendidos sobre este livreto (Karl Marx, “A Guerra Civil na França”) e, portanto, sobre a relação que Karl Marx estabeleceu com a primeira revolução proletária, que até hoje se mostraram muito difíceis de erradicar.
No que diz respeito ao seu cerne, todos esses mal-entendidos se resumem à ideia de que a Comuna de Paris teria adotado, em relação ao Estado, uma posição proudhoniana, que se desviava completamente do ponto de vista de Marx. Quando Marx redigiu o Discurso sobre a Guerra Civil na França para a Primeira Internacional, acredita-se que ele ocultou todas as suas diferenças teóricas e táticas com relação aos membros da Comuna. Ele teria aprovado tudo do início ao fim, aprovou também suas tentativas de dissolução imediata do Estado centralizado. Para os trabalhadores de todos os países, ele a apresentou como um exemplo brilhante. E ao fazer isso — eis ainda o equívoco com o qual estamos lidando aqui — ele teria renegado sua própria visão.
Tudo isso é uma opinião completamente equivocada. Ela está errada, inclusive, em dois aspectos. Em primeiro lugar, baseia-se numa avaliação incorreta da Comuna. Em segundo lugar, ela constrói uma oposição entre aquilo que Karl Marx escreveu sobre a revolução de 1871 e aquilo que ele pensava sobre ela — oposição essa que, na realidade, nunca existiu.
Nesse meio tempo, essa concepção errônea se difundiu amplamente. Ela não aparece apenas entre proudhonistas ou seus seguidores mais próximos, mas também em obras de historiadores profissionais, como o professor Arthur Rosenberg, que em certo momento pertenceu à Terceira Internacional, mas mais tarde rompeu com ela.
Em seu livro “Democracia e Socialismo”, publicado em 1938, esse mesmo Rosenberg repete todos os equívocos que enumeramos acima a respeito da Comuna de Paris e de Karl Marx. Ele se expressa até de maneira particularmente incisiva e afirma que Marx, com seu escrito sobre a guerra civil na França, teria anexado a Comuna para si. Ele chama isso de “um recuo teórico parcial do marxismo diante do proudhonismo”. E acrescenta ainda que “a correção teórica sempre foi irrelevante para Marx em comparação com as grandes tarefas do movimento…”.
Na maioria das vezes, os mal-entendidos sobre a relação de Marx com a Comuna são consequência do fato de não se ter compreendido que, ao escrever sobre essa revolução, ele ao mesmo tempo criticou algumas de suas próprias ideias anteriores, como já observamos no primeiro capítulo. No caso de Rosenberg, a situação é um pouco diferente. A autocrítica de Marx, se assim podemos chamá-la, não lhe escapou, mas ele não a leva a sério. Na prática, isso faz pouca diferença, mas mencionamos Rosenberg propositalmente, porque queremos nos concentrar especificamente em sua visão. Na verdade, acreditamos que uma crítica às afirmações de Rosenberg é a forma mais adequada de esclarecer a verdadeira relação de Karl Marx com a Comuna de Paris.
Segundo Arthur Rosenberg, portanto, Marx teria ocultado sua verdadeira opinião sobre a Comuna “pelo bem do futuro do movimento”. O que ele não leva em conta é que Marx não apenas em seu livro sobre a Comuna, mas muito antes disso, em obras como “As lutas de classes na França” (1849), “O 18 Brumário de Luís Bonaparte” (1852) e na introdução de sua “Crítica à Economia Política” (1859), havia corrigido e revisado suas opiniões anteriores. E — fato importante nesse contexto — todas essas revisões vão na mesma direção de sua crítica posterior de 1871.
Rosenberg ignora as (auto)críticas anteriores, aparentemente porque não leva a sério a (auto)crítica de 1871, já que — segundo ele — Marx teria silenciado sobre sua verdadeira posição naquela ocasião. Mas como ele chega à conclusão de que Marx, na realidade, julgava a Comuna de maneira diferente do que expôs em seu escrito sobre ela? A resposta que Rosenberg oferece é que Marx considerava “um governo centralizado ao estilo de Robespierre[3]” como necessário. No entanto, essa era a posição que Marx adotava em 1848, quando escreveu o “Manifesto Comunista”, e que ele modificou desde então. Rosenberg não toma nota dessa mudança e, com isso, chega à conclusão de que a posição de Marx em relação ao Estado divergia da dos comunardos.
Essa não é a única objeção que pode ser levantada contra a visão Rosenberg. Se, como ele, não se considera a afirmação de Marx no texto sobre a Comuna, de que “a classe trabalhadora não pode simplesmente tomar a máquina estatal existente e colocá-la em movimento para seus próprios fins”, como a verdadeira posição de Marx, como é possível explicar sua expressão semelhante em uma carta ao Dr. Kugelmann? Esta carta não se destinava à publicação. Também não havia razão para medir palavras aqui. Especialmente porque o Dr. Kugelmann era um dos amigos mais próximos de Marx, com quem ele se correspondia há anos. Por isso mesmo, essa carta demonstra que Marx, ao escrever sobre a revolução de 1871, estava de fato expressando seus pensamentos com precisão.
A avaliação de Marx sobre a Comuna pode ser encontrada, além de em seus escritos para a Internacional, em cartas aos combatentes da Comuna Frankel e Varlin[4], ao Professor Beesly e ao já mencionado Dr. Kugelmann, nas quais ele também formulou com precisão sua crítica à Comuna. Aquilo que, segundo Rosenberg, teria constituído o cerne — ou seja, a ideia de que teria sido necessário “estabelecer um governo centralizado no espírito de Robespierre” — não se encontra em nenhum lugar nesses textos. O que Marx chama de erro da Comuna é o seguinte:
Primeiro — diz ele — deveriam ter marchado diretamente para Versalhes, onde se encontrava o quartel-general dos reacionários, que faziam planos para esmagar a revolução por meio da força militar. Tivessem feito isso — num momento em que a burguesia ainda precisava reunir suas forças — teriam tido um jogo ganho, ou ao menos teriam evitado, como de fato ocorreu em maio, que o general Galliffet[5] colocasse suas tropas contra a Comuna. O momento certo foi desperdiçado pelos operários revolucionários… por objeções de consciência. Não queriam iniciar a guerra civil. Como se a guerra civil já não tivesse sido iniciada pelo político burguês Thiers[6], escreveu Marx. E Marx se referia ao fato de que, em 18 de março de 1871, Thiers tentou privar de seus canhões a Paris em ebulição, uma manobra militar que se tornou a causa direta da revolta.
A segunda objeção de Marx é que o Comitê Central, que tomou o poder provisoriamente no primeiro dia da revolução, entregou esse poder cedo demais, dando lugar à Comuna. Essa objeção, como fica indiretamente evidente em suas explicações, é compartilhada por Talès.
Em terceiro lugar, Marx acreditava — e há novamente ampla evidência da corretude de sua visão em historiadores da Comuna como Talès e Lissagaray[7] — que a Paris revolucionária desperdiçava muito tempo com ninharias.
A segunda objeção de Marx (de que o Comitê Central renunciou de seu poder prematuramente) poderia ser considerada uma confirmação da opinião de Rosenberg. Mas isso só seria possível caso se distorcesse bastante as palavras de Marx. Pois que não se esqueça de uma coisa: quando Marx, em uma carta ao professor Beesly, datada de 12 de junho de 1871 (ou seja, após a queda da Comuna), destrinchou novamente alguns erros dos trabalhadores parisienses, ele escreveu, entre outras coisas, que havia dado conselhos militares à Comuna sobre a defesa do bairro de Montmartre, mas não mencionou nada sobre “um governo no espírito de Robespierre”. Ele certamente teria feito isso se essa questão tivesse tido para ele o significado que Rosenberg supõe erroneamente.
O que pensar das palavras de Rosenberg, de que Marx sempre considerou irrelevante se ele estava correto teoricamente, quando estavam em jogo as grandes tarefas do movimento revolucionário? É relativamente fácil refutar essa opinião, porque isso já foi feito… pelo próprio Rosenberg, em outra parte do mesmo livro “Democracia e Socialismo”, de onde tiramos tudo isso. Em um capítulo específico, dedicado às divergências entre os exilados democráticos nos dez anos que se seguiram à derrota da revolução de 1848, Rosenberg nos descreve como, após algum tempo, os clubes de imigrantes em Londres compreenderam que a democracia jacobina (pela qual se lutava em 1848) havia chegado ao fim. Marx e Engels, para quem isso ficou claro imediatamente, continuaram clamando no deserto. A maioria dos exilados simplesmente não queria acreditar na derrota da revolução. Eles viviam da ilusão de que seria possível continuar a luta de onde ela havia parado em 1848 e deixaram Marx e Engels sozinhos. Todas as conexões com movimentos democráticos ou revolucionários foram perdidas para eles.
“Esta situação do ano de 1851”, assim se expressa Rosenberg, “foi, politicamente, o ponto mais baixo na carreira de Marx e Engels e em sua relação com a classe trabalhadora. (…) No que diz respeito à questão em si, Marx e Engels permaneceram totalmente inabaláveis. Não fizeram a menor concessão, nem em sua teoria, nem em suas ligações pessoais. (…) Marx prosseguiu seu trabalho científico, firmemente convencido de que o futuro lhe pertenceria (…)”[8].
Será que Marx teria realmente — e é nisso que se resume a visão de Rosenberg — adotado uma postura diferente na época da Comuna? Em relação a uma questão que era pelo menos tão importante, se não mais?
O que Rosenberg e os proudhonistas e todos aqueles que pensam como eles sobre a relação de Marx com a revolução de 1871 ignoram completamente é que Marx nunca desenvolveu uma teoria que prescrevesse ao capitalismo como ele deveria se desenvolver ou que impusesse à revolução proletária certos mandamentos, determinando que ela se desenvolvesse dessa e não de outra forma. O que ele investigou foi a maneira como o capitalismo se desenvolveria com base em suas dinâmicas. Ele não forneceu receitas sociais, mas buscou uma explicação para a realidade social e para a forma como ela estava sujeita a mudanças pela ação dos indivíduos e das classes a que pertencem. Por isso, aliás, ao contrário do que afirma Rosenberg, ele nunca acreditou que o futuro lhe pertenceria, mas sempre considerou que o futuro pertencia ao proletariado. De qualquer forma, toda a sua posição implicava que ele jamais hesitou em rever suas opiniões quando a própria realidade assim o demandava. A Comuna de Paris foi uma dessas demandas.
—
A COMUNA DE PARIS E OS COMUNARDOS
Uma das primeiras coisas que chamam a atenção quando se estuda a história da Comuna de Paris é o fato de que ela foi, em tão grande medida, obra das próprias massas. Com isso, elas mostraram o quanto a Associação Internacional dos Trabalhadores (a 1ª Internacional) tinha razão quando, sete anos antes, em 1864, havia formulado a noção de que a libertação da classe operária deveria ser conquistada pela própria classe operária. Naturalmente, isso ocorreu sem que essas massas estivessem especialmente dispostas a fornecer tal prova. Elas não estavam “em busca de nada” e, se na véspera daquele 18 de março, considerado o início da revolução, tivessem sido acusadas de querer realizar “uma transformação como a história ainda não conhecera”, elas próprias teriam sido as mais surpresas.
É notável — e esta é a segunda grande e instrutiva lição da Comuna — que, no início dos acontecimentos chocantes daquela noite de março de 1871, não havia nenhuma consciência revolucionária entre as massas parisienses.
Naturalmente, a insurreição da Comuna, assim como nenhuma outra revolução, não caiu do céu. Havia insatisfação em Paris e ela fermentava no seio do proletariado. Já em 4 de setembro de 1870 ocorreu um movimento popular; o brado “Viva a Comuna” já ecoava em 31 de outubro daquele mesmo ano e novamente em 22 de janeiro de 1871. Mas insatisfação ainda não é o mesmo que impulso revolucionário para a ação, nem compreensão dos problemas diante dos quais os trabalhadores se encontravam.
Ao descrever a história da Comuna, Talès afirma que, por um lado, a ideia da “república social” ganhou terreno nos meses que antecederam a Comuna. Mas, por outro lado, ele mostra que, no início da revolução, os “comunardos” ainda não eram revolucionários. “No entanto”, acrescenta ele, “eles logo se tornariam revolucionários”. De fato! Foram as circunstâncias que levaram os trabalhadores parisienses a agir de forma revolucionária em 1871. Não foi por terem uma consciência revolucionária que eles iniciaram uma revolução, mas o contrário: quando a revolução se revelou a única possibilidade de resolver seus problemas, eles revolucionaram ao mesmo tempo sua consciência. Quando começaram a mudar as circunstâncias, mudaram também a si mesmos. Que todos aqueles que alguma vez duvidaram da existência de possibilidades revolucionárias na classe operária levem isso a sério.
A revolução de 1871 começou em 18 de março, como se sabe, quando o burguês reacionário Thiers tentou tomar os canhões de Paris com a ajuda dos militares. Quando os parisienses impediram isso, opondo-se assim ao governo burguês e à Assembleia Nacional (a chamada “representação do povo”) em Versalhes, eles tomaram seu destino em suas próprias mãos, por esse simples fato. Isso significou uma ruptura completa com toda a França oficial. Eles próprios não compreenderam isso imediatamente. Quando Varlin, um dos comunardos, cuja filiação à Internacional o tornou conhecido além das fronteiras da França, recebeu uma carta do suíço James Guillaume[9] expressando a ideia de que os eventos em Paris haviam marcado o momento de uma revolução internacional, Varlin respondeu que tal levante estava fora de questão. É possível, e até provável, que Thiers compreendesse inicialmente muito melhor do que os comunardos o significado histórico e social da Comuna. Esse significado, porém, logo se imporia à consciência deles, porque:
1º. O Comitê Central, que havia sido formado em 18 de março, teve que tomar o poder político justamente por causa da ruptura com a burguesia;
2º. A Comuna eleita em 26 de março, que assumiu o poder do Comitê Central, era composta quase inteiramente por proletários ou representantes diretos do proletariado, que se deixavam guiar inteiramente pelos interesses proletários em suas medidas e decisões. Eles não haviam adquirido sua formação política em reuniões parlamentares, mas em reuniões de trabalhadores, como observa Talès.
O caráter proletário da Comuna ficou evidente desde suas primeiras medidas. Ela tomou duas decisões sobre aluguéis e dívidas, com o objetivo de aliviar a situação de emergência em que se encontrava o proletariado na Paris sitiada pelos alemães. Iniciou-se, além disso, a reorganização de toda a vida pública e aboliu-se a disciplina civil na Guarda Nacional. Esta foi, assim, despojada de seu caráter militar. De uma ferramenta de opressão da classe trabalhadora, tornou-se um instrumento de defesa revolucionária. Infelizmente, esse instrumento — que, por uma série de circunstâncias, estava bem abastecido de armas e munições — não foi suficientemente utilizado. Deixaram de perseguir a camarilha burguesa em Versalhes antes que ela pudesse criar um aparato militar forte o suficiente para derrotar a Comuna; também deixaram de fortificar as alturas de Montmartre, quando ainda havia tempo — apesar das repetidas e urgentes advertências de Marx em Londres, como vimos.
No entanto, ficou claro em meados de abril de 1871 o quanto a consciência dos comunardos mudou ao longo da revolução, quando eles declararam em um manifesto:
“Paris trabalha e sofre por toda a França; e através de sua luta e de seus sacrifícios prepara a recuperação espiritual, moral, administrativa e econômica… A revolução da Comuna, que começou em 18 de março por iniciativa do povo, inaugura uma nova era.”
As consequências disso não foram percebidas imediatamente. Elas precisaram — assim como essa própria compreensão — primeiro se impor pouco a pouco ao pensamento, precisaram ser conquistadas como patrimônio espiritual. Isso exigiu tempo, tempo precioso, no qual se cometeram erros e equívocos inevitáveis. Não é por acaso que, de todas as comissões de trabalho criadas pela Comuna, a de “Trabalho e Comércio” tenha realizado de longe os maiores feitos. Como operários, como homens da vida prática, os comunardos tinham sobretudo atenção para os detalhes práticos, para os problemas específicos diretamente ligados à vida cotidiana de sua classe. O trabalho noturno foi abolido, o montepio foi suspenso, a expropriação de oficinas foi prevista e parcialmente iniciada. Para os problemas gerais, intimamente relacionados ao caráter de classe de sua revolução, os comunardos mostraram muito menos compreensão, porque esse tipo de questão, na prática, só surge em pauta mais tarde do que os problemas práticos imediatos.
Assim foi possível que eles se deixassem intimidar pelo vice-governador do Banco da França, que disse a Beslay, um delegado da Comuna: “o Banco da França é a riqueza do país. Se vocês tocarem nele, a produção não será mais possível e vocês levarão tudo à falência”. Em vez de responder que a força de trabalho do proletariado era a única fonte de riqueza, em vez de afirmar com consciência que com o fim da produção capitalista também chegava ao fim a função do dinheiro, a Comuna permitiu tranquilamente que o dinheiro do Banco da França fosse levado para Versalhes, onde foi usado para recrutar os mercenários contrarrevolucionários que, ao final, provocariam a queda da Comuna.
A força da Comuna estava no fato de que ela não contava com “grandes homens”, mas que os comunardos eram os representantes diretos da própria massa. Sua fraqueza residia no fato de que essas massas proletárias — consequência inevitável do ainda limitado desenvolvimento do sistema capitalista de produção naquela época — eram insuficientemente formadas, possuíam ainda muito pouco de consciência revolucionária.
Há indícios de sobra para afirmar que ela estava rapidamente adquirindo essa maturidade no curso da revolução. Mas à Comuna, afinal, foi concedido pouco tempo. A burguesia assustada fez de tudo para destruí-la, pois a burguesia — como declarou um de seus representantes — simplesmente não podia tolerar “que pedreiros exercessem o poder”. O fato, porém, de que a Comuna havia tornado possível e realizado o exercício do poder pelos simples pedreiros, permanece — apesar de todas as suas fraquezas, erros e falhas — precisamente o seu mérito imortal.
[1] Texto traduzido a partir da versão digitalizada da brochura, disponível em: http://aaap.be/Pdf/Pamphlets-Spartacus/Lessen-Parijse-Commune.pdf. Traduzido por Vinícius Posansky e revisado por Thiago Papageorgiou.
[2] C. Talès. La Commune de 1871. Paris, 1921 (N.A). [Para uma crítica ao livro de Talès, confira o artigo de Maurice Brinton e Philippe Guillaume, “A Comuna de Paris, 1871”]
[3] Robespierre: líder da ala radical da burguesia na grande Revolução Francesa de 1789–1795 (N.A.).
[4] Tratam-se de Léo Frankel (1844–1896) e Louis Eugène Varlin (1839–1871), membros da 1ª Internacional e militantes da Comuna de Paris. Varlin tornou-se mártir da causa operária ao ser executado em 28 de maio de 1871 (N.T). [Para mais informações sobre Frankel, confira o artigo “Contra a mumificação da Comuna: descobrir Leó Frankel, de Charles Reeve”]
[5] O general Gaston de Galliffet (1830–1909) ficou conhecido como o “carrasco da Comuna de Paris”, por liderar a repressão sangrenta durante a “Semana Sangrenta” de maio de 1871, responsável pela execução em massa de comunardos.
[6] Adolphe Thiers (1797 – 1877), estadista francês (N.T.)
[7] Hippolyte-Prosper-Olivier “Lissa” Lissagaray (1838 – 1901), jornalista e autor da obra “História da Comuna de 1871” (N.T.)
[8] Rosenberg, “Demokratie und Sozialismus”, Amsterdam, 1938, p. 136.
[9] James Guillaume (1844-1916), professor suíço membro da Federação de Jura, ala anarquista da Primeira Internacional (N.T).

Ediçao en español
https://inter-rev.foroactivo.com/t14112-lecciones-de-la-comuna-de-paris-theo-maassen-amsterdam-1-de-mayo-de-1953-liga-comunista-espartaco#130357